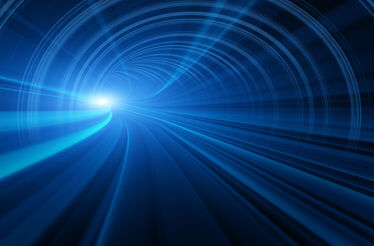Joana Bértholo: “Interessa-me a nossa necessidade de ir ao romance buscar uma sensação de verdade”
Conversa com a escritora e dramaturga numa esplanada em Lisboa, cidade central do seu romance “A História de Roma”, que celebra pouco mais de um ano de lançamento.

Diz-se que não devemos julgar um livro pela capa, mas é difícil não reparar no grande elefante com cordão umbilical centrado na capa de A História de Roma [Editorial Caminho], num fundo vermelho. Esta imagem, em conjunto com o título e o carimbo de "romance", têm algo de intrigante e desconcertante – o tom, aliás, de todo o livro. A escritora e dramaturga – licenciada em Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e doutorada em Estudos Culturais pela European University Viadrina, na Alemanha – adensa o mistério logo na primeira página ao chamar Joana à personagem principal. O nosso ímpeto de leitura quer fazer-nos acreditar que existe aqui autoficção, mas sabemos que Joana pode ter querido brincar com as palavras – aliás, na entrevista deixa sempre em aberto que partes são ou não ficcionadas (o que nos faz brincar com o facto de ter querido fazer ficção sob ficção). Seja qual for a sua verdade, a história deste casal que se conhece em Buenos Aires e se vai cruzando de forma improvável noutros países, como Beirut e Lisboa – a âncora da atualidade de todo o romance, tem uma força verdadeira que nos comove várias vezes. Inusitada e um quê de extravagante, esta Joana d’A História de Roma – que venceu o Prémio Literário Fundação Eça de Queiroz / Fundação Millennium BCP 2023 – abre-se ao leitor, mostra-lhe o pior e o melhor, e não tem medo de admitir coisas: como não saber se quer ser mãe, outro dos pontos que liga o romance do início ao fim. Um ano depois da publicação desta pérola literária, sentamo-nos com a escritora numa esplanada de Lisboa.
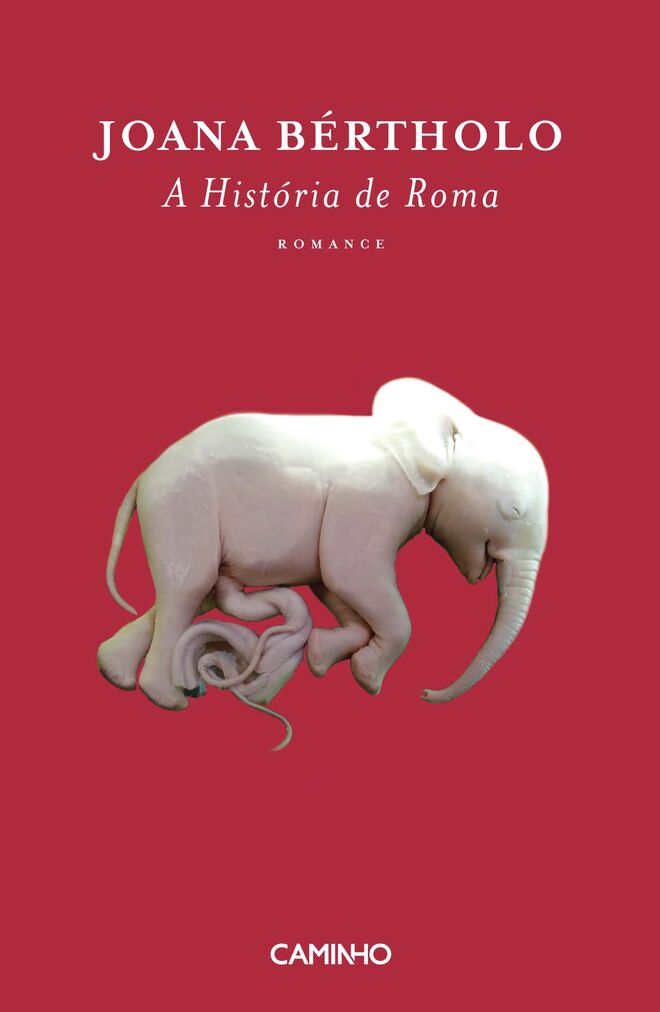

Parece ter nascido para a narrativa – mas o seu percurso nem sempre foi orientado para a escrita. Como é que isto se deu?
A minha formação é em Artes Visuais, em Artes Plásticas, sempre achei que ia estar mais ligada à imagem, como fotógrafa ou realizadora. Não me via como alguém da palavra, mas como alguém do desenho ou da pintura. A minha mãe diz que eu todas as semanas queria ser uma coisa diferente, mas sempre dentro do espectro das Artes Visuais. E a escrita sempre acompanhou isso, com diários e contos muito pueris e maus deste muito cedo, mas não a via no meu horizonte. Não a via como forma de vida, como instrumento de trabalho. Só depois da Faculdade é que vi essa possibilidade. Quando encarrilou, nunca mais peguei num lápis, nunca mais desenhei.
Em que momento se começou a sentir na pele de escritora?

Não com intenção de ser escritora, mas o meu primeiro romance –Diálogos para o Fim do Mundo – acontece quando tenho 25 anos, e estou a viver em Berlim. Estava a fazer trabalhos em torno de Cinema, Artes Visuais, Design. Como leitora, queria saber o que é que era um romance escrito por mim, então nesse período consegui tirar sete a oito meses para fazer isso. Eu gostava tanto do romance enquanto forma, que tive curiosidade de saber a que soaria. Tive sorte, porque esse livro ganhou o Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho. Fui convidada para publicar na [Editora] Caminho, o que é um jackpot editorial. Foi um alinhamento de astros. Comecei a sentir-me escritora, já tinha um prémio e uma editora. Quem toma uma decisão prévia a isso tem uma batalha mais dura para travar.
Esse lado visual deu-lhe a capacidade de observadora que demonstra neste A História de Roma?
Eu não sei avaliar em que medida, mas sei que os anos a fazer fotografia analógica contribuíram para a forma como penso e escrevo, sim. A forma de pensar era mais depurada e tinha mais a ver com um olhar prévio – só tens aquela oportunidade. Há exercícios de desenho que me marcaram muito, mas ficou-me esta ideia: nunca estás a desenhar a forma, mas sim a relação entre as formas. Agora, não é que pense nisso conscientemente quando estou a escrever.

A forma de narrativa desta história vai atrás, à frente, ao presente, com fragmentos e muitos episódios que se enlaçam. Como foi pensado?
A escrita em si foi um exercício fluido, em comparação com livros meus anteriores, que exigiram investigação. Estas histórias já estavam comigo. O grosso da história foram alinhamentos, ligações, presenças temporais. O cerne é o casal que está em Lisboa, mas que está constantemente a ir atrás de uma série de cidades diferentes. Lisboa é sempre a âncora. Esse ir e vir, essa maré, teve de ser muito trabalhado para parecer orgânico, para parecer que só estão a caminhar por Lisboa e a lembrar-se de coisas ao acaso. Isso foi o mais trabalhoso.
Há uma abertura para a exposição da vulnerabilidade, neste romance. Da franqueza desarmante ao não ter medo de parecer vilã. É uma coisa geracional? Há ainda uma tendência para encarar isso como algo "menor"?

Penso muito sobre isso e acho que há muitos fatores em jogo. Por parte dos leitores vivemos um momento em que a autoficção e a autobiografia estão a ter momentos fortes. Na apoteose temos a Annie Ernaux, que tem uma escrita confessional, sabemos que foi a vida dela. Apesar de eu, neste livro, apelar a este tipo de leitura – e faço-o de um modo consciente ao chamar à protagonista Joana – continuo a sentir que sou da ficção. Foi uma maneira de refletir. Enquanto escritora interessa-me realmente a distância ao real e as representações do real, e a imaginação enquanto forma de representação do real. Neste livro, permiti-me – a partir de uma estrutura aparentemente autobiográfica – ficcionar. Eu escrevo romance na capa. É delicadíssimo: nos clubes de leitura, há leitores que me dizem que não querem saber o que é ou não verdade (porque a sua experiência fica mais intensa quando acreditam que aquilo me aconteceu mesmo como eu narro). Porque é que vamos para uma história baseada em factos verídicos com outro apetite?

É um exercício de dupla ficção.

É uma ótima expressão. Eu própria, no processo de escrita, na decisão que me custou mais – chamar à personagem Joana – preparei-me para lidar com esse melindre. Será que vou ser julgada? É a questão da exposição.
Adensa o enigma, dá-lhe força. Está também a propor uma espécie de jogo ao leitor?
É engraçado que, com esse exercício, percebo que cada leitor se posiciona nesse espetro do real (versus) imaginado de formas muito diferentes e eu tive de aprender a lidar com isso para não melindrar ninguém. Há os que precisam mesmo de saber, o que é exactamente ficcionado, e os que me dizem diretamente que precisam de acreditar que é tudo verdade. É fascinante.

Voltando à autoficção, está a deixar de ser vista como arte menor? Há mais abertura?
No meu grupo de amigos há muita gente que lê autoficção, debatemos muito obras como as de Rachel Cusk, Elena Ferrante… Ou Susana Moreira Marques e Isabela Figueiredo. São escritoras com um trabalho literário pertinente e que diz muito ao nosso tempo. Por algum motivo, ainda acredito que o meu trabalho se consegue dizer dentro da ficção. Interessa-me a relação da nossa necessidade de ir ao romance buscar uma sensação de verdade, em contraponto com as fake news ou com a aparição dos avatars e das entidades de inteligência artificial. Pergunto-me até que ponto, inconscientemente, isso não nos faz querer cada vez mais ancorar em histórias que sabemos que são verdadeiras. Sinto que, ao posicionar-me de tal forma na ficção, estou por vezes a remar contra a maré.
As pessoas estão a voltar a ler? Os dados dão conta de que a compra de livros aumentou, e em Portugal parecem também estar a começar mais clubes do livro, embora virtuais.

Há os escritores mais ‘formulaícos’, que abordam os livros de modo comercial – sei bem que existem e que as livrarias estão cheias deles. Mas também conheço muita gente na área que são pessoas menos frívolas que esse tipo de escritor, que estão preocupadas com o que se perde ou se ganha na experiência de leitura, outros mais preocupados com bons audiolivros, mas todos estão preocupados que a literatura singre. É preciso fazer um trabalho de fundo na educação, para que se leia melhor. É giro ver que há cada vez mais desafios de leitura nas comunidades digitais. Até que ponto estou a remar contra a maré na ficção.
Há uma questão orientadora ao longo do texto: não deixas margem para dúvidas no arranque que o tema da maternidade e da não-maternidade é o fio. Como têm reagido os leitores?
Claramente não estava errada na minha percepção de que fazia falta um espaço para se falar sobre isso. A cada encontro, há uma boa parte de troca de experiências e noções sobre a maternidade. Há uma grande necessidade de limpar o estigma, de tornar normal certas posições, de desabafar sobre isso. Esta personagem queria aumentar a possibilidade de refletir sobre isso. A coisa é muito mais múltipla e diversa, e as motivações são quase tantas quanto as mulheres que tomam essa decisão. Era essa a minha percepção. Sentia falta, como leitora, de ler um livro onde isso pudesse existir de uma forma mais arejada. Eu queria muito que ela duvidasse, que tivesse tempo. Da mulher que tem o relógio biológico e o sente, sabe desde sempre, até à que nunca sentiu nada – e dentro deste espetro de possibilidades há milhares de mulheres que oscilam, que hesitam, que são influenciadas umas pelas outras, que são levadas para decisões afastadas da sua verdade, ou porque querem corresponder ou porque nem se apercebem. Nas redes sociais contam-me várias coisas, tanto mães como não mães. Cada pessoa tem uma história muito particular. Muita gente me diz "que bom que o livro vem falar sobre isto." Para mim é estranho, porque não sou a personagem, mas é o meu nome. Apesar de tudo, criei uma personagem que tem alguns traços muito excêntricos, e que as pessoas podem achar que toma escolhas duvidosas. No entanto, quis que a sua excentricidade viesse de um lugar que conseguíssemos compreender.

O amor está no centro da narrativa. Como se escreve sobre amor sem cair no lugar-comum?
Não tenho uma fórmula, mas é uma preocupação que me acompanha sempre, porque é a história mais contada. Quantos filmes, canções, poemas, existem… Se tiramos o amor e o desamor da produção cultural, o que restaria? Eu tento que isso não me amedronte, mas que me dê confiança no sentido em que isso é a força vital da vida das pessoas. O que é comum a todos os meus possíveis leitores é que eles já amaram, sofreram, perderam, hesitaram, tiveram dúvidas sobre si próprios, sentiram-se aquém… Isso dá-me força. Tem a ver como evitar lugares-comuns, há coisas que todos já sabemos, que já não vale a pena formular. É ir à procura, intuitivamente, de uma forma nova de olhar para o de sempre, de estranhar aquilo que achamos natural.
As viagens inspiram-te em que medida? No livro, há vários destinos, de Macau a Berlim, mencionados como location deste amor.
Em todos os livros, sim. Mas o único em que eu assumo isso – que pude viver fora e que muito do que eu sou resulta dessas experiências, de não conhecer ninguém numa cidade e de começar do zero, de ser estrangeira e do que isso implica – é este. De Marselha a Beirute, derivei muito linearmente da minha própria vida, talvez seja a camada do livro em que existe menos ficção. Fiz um exercício gratificante: passados tantos anos, 10 anos depois de ter vindo embora de Buenos Aires, percebi o que me inspirou mais e marcou. Foi um exercício de síntese, importante para mim a nível pessoal.
Acaba por ser também uma declaração de amor a Lisboa, sobretudo quando descreves os passeios juntos.
Lisboa nunca aparecia nos meus livros. Porque o que conhecemos melhor, que está mais próximo, parece tão óbvio, que é difícil escrever sobre isso sem sentir que estamos a cair em lugares-comuns. Foi difícil escrever sobre Lisboa. Tive tendência para sítios exóticos, imaginários. Na minha história de vida, acabei por ser armadilhada para ficar em Lisboa, falando da história da Joana Bértholo e não da Joana personagem. Eu achava que ia sempre viajar, que ia continuar a viver fora. Foi uma circunstância de família que me foi fazendo ficar. Eu via-me como uma pessoa que está sempre a ir, que está sempre longe, fora, a minha inquietação era sempre: ‘onde é que eu vou viver a seguir?’ Ou seja, a minha angústia é: ‘eu decidi isto, ou a vida decidiu por mim?’ [viver em Lisboa] – e acho que o livro ajudou-me a fazer as pazes com isso.
Escreve com que método? Onde, quando?
Escrevo todas as manhãs em casa, vivo sozinha. Faço um café, lavo a cara e vou para a mesa de trabalho. Só quando esgoto o ímpeto inicial da manhã é que faço uma pausa. As primeiras horas da manhã são muito importantes para mim. Mesmo em fases em que não escrevo nada muito específico, salvaguardo a manhã. Estudo, revejo ficheiros em gavetas, releio… Tento sempre comparecer. O meu truque é esse, ser perseverante, estar no meu quotidiano.
É um trabalho solitário?
É. É talvez a parte que não tem muito a ver como a minha personalidade. Por sorte, tenho este outro ramo da minha escrita, que é a da dramaturgia, que faz com que vá para residências, para salas de ensaio, para clubes de leitura… É bom para sair da gruta (risos).