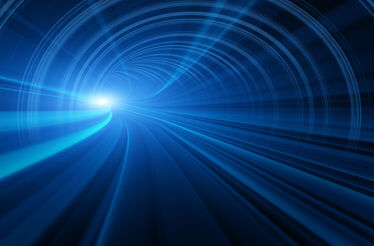As mulheres (ainda) vão mandar no mundo?
"The future is female". Nos últimos anos, vimos esse slogan por todos os lugares: nas redes sociais, em campanhas publicitárias, em t-shirts, possivelmente até na parede de algum Airbnb. No entanto, agora o statement já não é mais tão certeiro.

A quarta onda feminista que emergiu junto com o boom das redes sociais já dá sinais de cansaço. O #MeToo perdeu a sua relevância, as mulheres americanas tiveram os seus direitos reprodutivos ceifados, não há o mesmo entusiasmo pelas lideranças femininas no setor público e privado. Este último, propagado com o hashtag #GirlBoss, teve vida especialmente curta.
O termo foi popularizado em 2014, a partir do livro da empresária Sophia Amoruso com esse título – em 2016, a Netflix produziu uma minissérie homónima, que aumentou ainda mais o hype. Porém, neste mesmo ano, a companhia foi à falência, e veio a público a toxidade da liderança de Amoruso. A parir daí, o termo deixou de ser inspiracional e passou a ganhar uma conotação crítica ou irónica.


O arquétipo da mulher ultrapoderosa não começou e nem irá terminar com essa terminologia. Já na Antiguidade tínhamos exemplos de lideranças femininas que ficaram para a História – Cleópatra, Isabel de Castela, Isabel I de Inglaterra, Catarina a Grande e Vitória do Reino Unido são os exemplos mais emblemáticos, por ordem cronológica. O que diferencia a #GirlBoss das suas predecessoras é a liderança adaptada ao século XXI. O discurso é feminista, em sintonia com as redes sociais, e em diálogo com a hustle culture tão em voga em tempos pré-Covid19, quando ainda se falava de meritocracia. A escolha pela palavra girl pode ser lida como infantil mas também é uma separação ativa da leva de líderes da virada do século XX, que precisavam de apagar resquícios da sua feminilidade se quisessem subir ao poder.
Margaret Thatcher, Michelle Bachelet, Hillary Clinton, Angela Merkel e Dilma Rousseff foram algumas das políticas que só conseguiram alcançar tal posição de destaque ao adotar um estilo rígido na maneira de se vestir e comportar. A exceção é a atual vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner, que vai no caminho oposto, com vestidos rodados, muitas vezes floridos, maquilhagem em abundância, joias e relógios dourados, e diversas cirurgias estéticas, praticamente uma diva gay. Numa entrevista que Kirchner deu a Naomi Campbell, disse: "Nos anos 70, algumas pessoas diziam que usar maquilhagem ou estar bem era considerado uma atitude burguesa e, portanto, condenável. Para mim isso sempre foi ridículo. Nunca acreditei que a feminilidade fosse incompatível com a política".


Não à toa, Kirchner ocupa cargos de poder faz tantos anos que pode ser considerada a ponte que une os dois lados do zeitgeist. A nova leva de líderes da geração millennial não precisou de passar pelo processo de anulação da feminilidade pelo qual as suas antecessoras passaram: falamos de Alexandria Ocasio-Cortez, a congressista mais popular dos Estados Unidos, Jacintha Ardem, primeira-ministra da Nova Zelândia, e Sanna Marin, a primeira-ministra da Finlândia, todas nascidas durante os anos 80. No entanto, os limites ainda existem. Em agosto, Sanna Marin foi alvo de escrutínio meramente por ter sido filmada dançando numa festa privada. A reação escandalosa a este acontecimento tão inocente e banal evidencia a desproporção do tratamento entre os géneros. É, também, um triste ponteiro que indica que a opinião publica não está tão tolerante com a #GirlBoss.


Há uma quantidade considerável de dados que tornam possível quantificar como ocorre essa desproporção. Estudos feitos em 2016 pela Fundação Rockefeller mostram a disparidade de tratamento nos media a depender do género do CEO. As lideranças femininas são consideradas culpadas pela crise nas empresas em 80% dos casos, enquanto o mesmo só acontece em 31% se o CEO for homem. "Os dados mostram que há uma parcialidade inconsciente nos media em relação à forma como tratam mulheres CEO", resume a presidente da Fundação Rockefeller, Judith Rodin. Em 2020, o Reykjavík Index (criado pela organização Women Political Leaders junto com a agência de pesquisa Kantar) concluiu que só 52% das pessoas dos países do G7 se sentem confortáveis com uma chefe de estado do género feminino.




Não se trata apenas de misoginia, mas também de disputas internas dentro do próprio feminismo que discordam da seguinte premissa: a liderança feminina é suficiente para uma administração mais humana? O feminismo liberal acha que sim, o feminismo com viés mais à esquerda acha que não. O manifesto Feminism for the 99%, de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, aborda a ideia de que a liderança feminina é algo inerentemente positivo. O texto destas investigadoras contrapõe o discurso da CEO do Facebook Sheryl Sandberg, que defende que é preciso que pelo menos metade dos países e corporações sejam comandados por mulheres, à opinião de outras feministas ligadas ao movimento operário e sindical, que entendem que é indiferente o género do líder se a maioria da população, homens e mulheres, continuar sem condições de manter uma vida digna. O exemplo mais recente? A vitória do partido de extrema-direita comandado por Georgia Meloni em Itália (nesse caso, mais #GirlFührer que #GirlBoss).


A cultura pop pode ser uma chave para entendermos de modo didático e ilustrado o que diz determinado momento histórico. A ambição feminina sempre foi retratada de modo negativo por Hollywood. A #GirlBoss nas telas segue dois caminhos distintos. Pode ser uma mulher incompleta que só alcança a felicidade plena quando encontra um homem (como Sandra Bullock em A Proposta ou as mulheres de O Sexo e a Cidade). Ou então é uma pessoa fria e calculista, características muitas vezes representadas pela sua falta de feminilidade (como Lady Macbeth ou Sigourney Weaver em Uma Mulher de Sucesso).
No entanto, ninguém representa melhor as diferentes conotações deste arquétipo que Miranda Priestly representada por Meryl Streep em O Diabo Veste Prada. O filme de 2006 tem uma trama bem simples: uma jovem idealista tem seus valores éticos corrompidos por um mercado de trabalho competitivo e tóxico. Miranda, a editora sádica e todo-poderosa de uma revista de moda, é retratada como uma mulher infeliz que sente prazer em humilhar os funcionários. Andy, a sua nova assistente, precisa de encarar o dilema faustiano e escolher se vende a sua alma ao diabo para vencer numa carreira que nem sequer lhe desperta interesse. Longe de ser anticapitalista, a mensagem do filme é simplesmente aquele clichê antigo: "siga os seus sonhos".


Alguns anos depois, no ápice da popularidade da #GirlBoss, o filme ganhou outra interpretação, diametralmente oposta. Agora, Miranda Priestly era demonizada entre seus pares por nenhum outro motivo que não fosse seu género. O novo vilão era Nate, namorado de Andy, um personagem secundário, presente em pouquíssimas cenas, que critica a carga horária excessiva da empresa e as demandas impossíveis de Miranda. Era, portanto, um homem retrógrado que não aceitava o sucesso profissional da namorada (mesmo que Nate reitere que jamais reprovaria a sua dedicação ao trabalho caso ela fosse realmente apaixonada pelo ofício). No fim, a escolha de Andy ao privilegiar os seus valores éticos e interesses intelectuais não é vista como símbolo de um final feliz – afinal, caso ela tivesse vestido a camisa da empresa, poderia ser a nova déspota da revista fictícia Runway.
Nos últimos anos, uma nova leva de produções cinematográficas dialoga com essa virada de perceção. As personagens, algumas fictícias e outras inspiradas em pessoas reais, vêm com a roupagem específica da #GirlBoss do século XXI: são bonitas, bem-cuidadas e cruéis. O discurso feminista impecável é apenas um disfarce hipócrita para a sua crueldade e ambição. Há os filmes biográficos sobre Elizabeth Holmes, CEO da Theranos, e Rebekah Neumann, da WeWork, e as personagens fictícias Marla Grayson de Tudo Pelo Vosso Bem e Shiv Roy de Succession. É possível criticar a #GirlBoss sem aderir à misoginia, ao ser-se atento às suas nuances e contradições, e não ser apenas um veículo para uma narrativa reacionária, que deseja o retorno da passividade feminina. Agora é só acompanhar – ou escrever – os próximos capítulos.

Como Reese Witherspoon se tornou na atriz mais rica (e uma das mais influentes)
"Não consigo pensar numa história de maior sucesso em que uma atriz se torna em produtora", diz sobre si a escritora Helen O’Hara.
Contado por Mulheres. Clássicos da literatura lusófona são adaptados pelo olhar feminino
Laura Seixas, Rita Barbosa, Diana Antunes, Anabela Moreira e Maria João Luís são as realizadoras dos cinco telefilmes que chegam em maio ao ecrã.
Mariana Águas: “Ainda estamos longe da igualdade de género no futebol”
Um dos rostos mais fortes da CMTV, modera como ninguém os debates mais acesos da estação. À Máxima, abre-se sobre o seu percurso, sobre como foi crescer no meio do futebol, e como hoje encara o seu trabalho.
Nara Vidal, escritora: “O feminismo deve ser debatido à mesa do almoço”
A propósito do lançamento do livro "Canibal e Outros Contos em Portugal", pela editora Exclamação, a escritora brasileira de Guarani, Minas Gerais, discorreu sobre o lugar da mulher, na literatura e na vida.
"The Idol" nunca se propôs a ser um veículo do feminismo, mas o resultado é ainda pior que o esperado
"Eis que depois de quatro episódios repletos de cenas que pareciam ter sido escritas por um adolescente virgem, The Idol consegue se superar. O episódio final prova que sua política sexual não é apenas ingénua, e sim nociva."
Como um anúncio de futebol combate os estereótipos de género no desporto
O que acontece quando um vídeo da seleção de futebol masculina francesa se revela ser, afinal, da seleção feminina? Somos levados a refletir sobre o que pensamos no que toca ao desporto praticado por mulheres e, neste caso, a elevá-las.
Islândia: mulheres voltam à rua 48 anos depois da primeira greve geral
Cerca de 100 mil mulheres, mais de um quarto da população islandesa, manifestaram-se contra a discrepância salarial, a violência de género e o assédio sexual. A greve paralisou o país, recordando a histórica greve geral feminina que decorreu a 24 de outubro de 1975.
Alexandria Ocasio-Cortez responde às críticas por ter sido empregada de bar
A famosa congressista da ala mais à esquerda do partido democrata discursou no dia de abertura da Convenção Democrata. AOC, como é conhecida, não perdeu a oportunidade de dizer o que pensa sobre as críticas que os republicanos costumam dirigir-lhe.