Isabela Figueiredo: “Quero muito questionar a nossa escravidão, porque somos tão pouco livres?”
“Um Cão no Meio do Caminho” é o muito aguardado romance da autora, depois do sucesso de “A Gorda”. Uma vez mais, Isabela Figueiredo oferece-nos personagens inesquecíveis numa escrita poética e contemporânea que precisa de ser descoberta urgentemente. O mundo cabe todo na Margem Sul de Lisboa, onde fizemos esta entrevista.

O rio Tejo está agitado. A viagem do Cais do Sodré até Cacilhas embala quem apanha o barco e suspende a agitação do quotidiano durante alguns minutos. Mal as portas se abrem no cais, a correria retoma na outra margem, dezenas de pessoas correm para apanhar um autocarro, tentam chegar a casa.
Mergulhamos aos poucos no universo da escritora Isabela Figueiredo. A Margem Sul já estava no centro do seu segundo romance A Gorda (2016), há uma portugalidade que se torna poética quando é apanhada na sua escrita de leitura rápida e apaixonante. Quem a descobre fica fascinado, sente que precisa de ler tudo o que Isabela escreveu de imediato.

Está à nossa espera num restaurante na rua principal de Cacilhas, almoça apenas algumas sardinhas, recebe-nos com um riso jovial, a sua voz bem colocada faz-nos pensar que poderia ser atriz. As mãos mexem-se, dinâmicas e irrequietas, enquanto nos conta as peripécias do seu regresso de França, no dia anterior.
O seu primeiro livro, Caderno de Memórias Coloniais (2009) recebeu o prémio de público no Festival de Literatura Europeia de Cognac. Em França, este seu texto que se impôs ao longo de uma década em Portugal, está agora a ser recebido com um entusiasmo rápido, próprio de um povo que lê de forma compulsiva. Numa autoficção, género que os leitores franceses apreciam mais que tudo, Isabela conta a adolescência e o colonialismo em Lourenço Marques, agora Maputo, questiona a forma de pensar do seu falecido pai. Conseguimos, por isso, imaginar o furor dos leitores do Hexágono quando descobrirem brevemente a sua personagem Maria Luísa em A Gorda. É sexual, dramática, fala do seu corpo de uma forma contemporânea. Uma paixão move-a, é uma figura inesquecível, parecida com Isabela. Antes de ser escritora a tempo inteiro, Isabela foi jornalista e depois professora. Nasceu em 1963.
Um Cão no Meio do Caminho, "é um novo arranque", diz-nos. É a primeira vez que afasta as personagens de si, apesar de se moverem em universos que lhe são próximos. José Viriato, homem solitário de 50 e poucos anos, dedica as suas noites a recolher o lixo do bairro com potencial para ser vendido. A sua nova vizinha intriga-o, ela que foi alcunhada no café local como "a matadora" acumula objetos em casa. Vai precisar da ajuda de Viriato quando uma febre forte lhe invade o corpo.

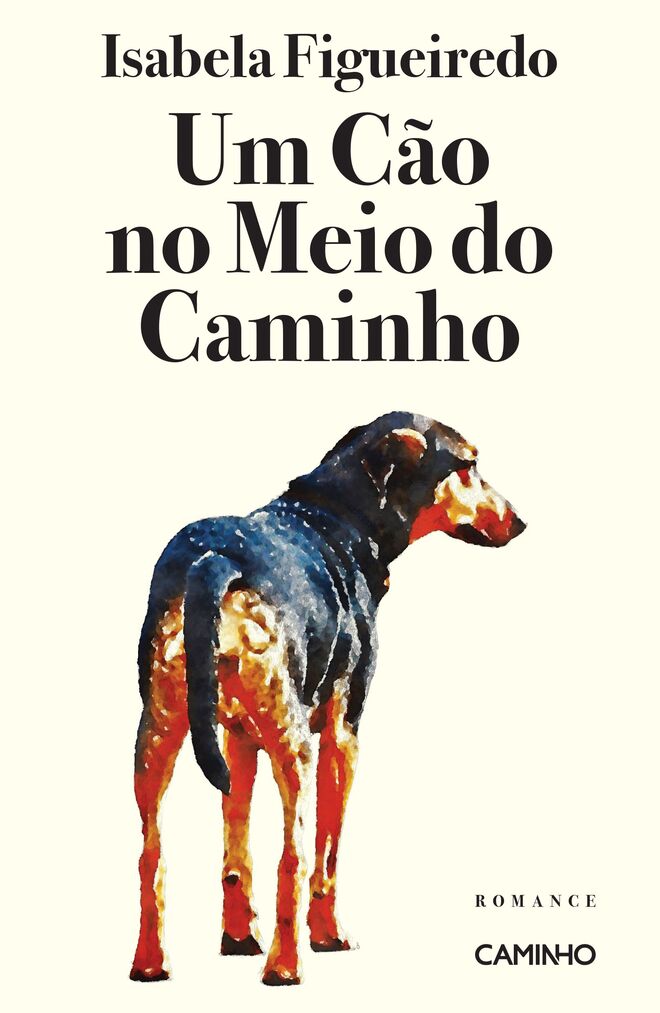
Com estas personagens, voltamos à Lisboa dos anos em que se deu o 25 de abril, ou às ruas da baixa lisboeta dos anos 80. Esta narrativa impõe Isabela como uma das grandes escritoras de um Portugal contemporâneo (se dúvidas restassem). Há os temas que trata de forma sóbria e que pouco foram abordados na literatura portuguesa. Quem são estes seres que o capitalismo das cidades parece querer esquecer? A escrita de Isabela Figueiredo leva a Margem Sul para o centro do mundo, como se fosse Nova Iorque ou Paris. Os sentimentos que ali se vivem são dignos de imortalidade, como nos grandes clássicos.
Que Margem Sul é esta que ofereces aos leitores dos teus dois últimos romances?

É quase uma personagem coletiva. É um lugar periférico onde vivem pessoas não privilegiadas. De uma classe social explorada que gasta a sua vida a trabalhar. Têm só tempo para criar os filhos e ganhar dinheiro para comer e pagar a renda de casa. É um lugar muito cheio de riqueza de vida. São estas pessoas que apanham os barcos que vêm atrasados e que aguentam a grande máquina social a funcionar. Isso fascina-me, e eu vejo-os. Gostaria que os outros os vissem também.
Posso dizer que as personagens deste teu romance andam à procura de rumo?
Sim.

Nos dramas que vivem?
No caso do José Viriato, ele não sabe mesmo como viver. Ele recusa a vida dos pais, que é uma vida de trabalho, e recusa a vida da avó. No fundo, o que é que as pessoas querem que nós façamos? Que tenhamos um rumo profissional para nos sustentarmos. Ninguém nos pergunta se esse rumo nos realiza enquanto pessoas. A mim nunca ninguém me perguntou. Como jornalista não perguntaram, por isso saí da profissão. Como professora, sim. Mas trabalhei que nem uma escrava. Eu quero muito questionar a nossa escravidão, e porque somos tão pouco livres. Porque temos de baixar a cabeça e dizer que sim ao patrão. Penso que os jovens já questionam isso. Por isso, sim. É um livro em que as pessoas estão à procura de saber como viver de forma diferente daquela que viveram os nossos pais.
São pessoas que foram feridas?

Sim, mas isso é absolutamente necessário a qualquer personagem. Todas as personagens têm que ser personagens feridas artisticamente. O que somos sem as nossas feridas? Estamos aqui a construir feridas para as curar.
Tenho dificuldade em criar heróis e heroínas. Eu crio anti-heróis.
Há esta frase que me parece crucial no livro. Escreves: "o ano do 25 de abril foi tão bom, todos éramos felizes." Essa miragem de liberdade foi importante nas tuas personagens? E para ti, que vieste de Moçambique para Portugal pouco tempo depois do 25 de abril? Achas que se perdeu algo depois?
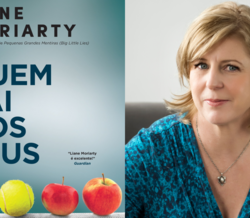
Acho. Eu não vivi o 25 de abril em Portugal. Estava em Moçambique. Tive de fazer uma investigação para escrever sobre este período no livro. Cheguei cá quando acabou a euforia revolucionária, a dois dias do 25 de novembro.
Chegaste no down?
Completamente. Foi quando começou o processo de preparação das eleições que levaram o Ramalho Eanes à Presidência da República. Quando ouço os portugueses que viveram o 25 de abril, sinto neles um entusiasmo relativamente a esses meses. Acreditaram que Portugal ia ser uma utopia, uma espécie de Cuba. Acreditaram verdadeiramente no socialismo. Quando o meu pai me mandou para Portugal, sozinha, não foi por acaso. Eu corria muitos riscos lá, havia massacres e violações, era grave. Mas ao mesmo tempo, enquanto adolescente todo aquele discurso de liberdade me agradava imenso. Eu vim com entusiasmo. Lá em Moçambique dizia-se que cá estava uma confusão, que havia imensos partidos. Eu ouvia aquilo a pensar, "aquilo lá deve estar giro". Vim para cá com um certo espírito revolucionário que eu tinha, o meu pai não.

Quando cheguei tive uma grande deceção com o caráter dos portugueses. São um povo conformado. Eu não sou, e isso choca-me. O que é que eu acho que aconteceu a Portugal? A desilusão. E essa desilusão é crónica, é endémica.
No teu livro A Gorda acontecia algo que já acontece neste livro, a ação anda constantemente de trás para a frente.
Sim, eu gosto de brincar com o tempo. Vocês leitores vão continuar a sofrer com o tempo, é assim que eu gosto de trabalhar. É assim que trabalha o Tarantino nos filmes dele, já reparaste?


Sim, creio que no Pulp Fiction (1994) a ação é assim...
O Tarantino pode mudar o tom do filme, pode pôr uma fotografia sépia quando volta 50 anos para trás. Eu não tenho essa possibilidade. No filme Kill Bill (2003) isso é extraordinário. É assim que imagino os meus livros, com essa dinâmica cinematográfica.

As cenas da tua personagem Beatriz, na retrosaria, lembraram-me uma história real. Nos anos 50, houve uma babysitter americana chamada Vivian Maier que tirava fotografias como ela, sem as mostrar a ninguém, eram fotografias de pessoas anónimas nas ruas, na América. Enquanto te lia pensei que a personagem de Beatriz podia ser uma espécie de Vivian Maier, mas em Lisboa...
Sim, é a Vivian Maier (risos). Eu ando a persegui-la desde 2017, e tenho tido muita sorte. Quando estive na residência literária em Berlim, em 2018, havia uma grande exposição [sobre ela] na qual passei horas. Vi todas as fotografias e os filmes feitos por ela. E mandei vir todos os livros dos Estados Unidos. Ela está na base da Beatriz ou da "Matadora" (alcunha que lhe deram as pessoas do bairro), até fisicamente. É alta, com um andar paquidérmico, e com a máquina Rolleiflex atrás. Eu também gostava de ter uma máquina daquelas.
No começo da nossa entrevista, ao falares da Margem Sul, dizias-me que todas as pessoas contam. A Vivian Maier foi uma testemunha de uma época, tirou milhares de fotografias...

E ninguém olhou para ela.

Ela é a maior testemunha daqueles anos na América, sem nunca ter sido reconhecida em vida. Vivia fora dos circuitos artísticos.

Nós temos mesmo de olhar com muito respeito para toda a gente. Devemos ouvir as pessoas.
Neste livro há esta ideia de que todas as vidas contam.
Sim, é o enorme respeito que eu tenho pelas pessoas do Café Colina (nome do café onde se encontram as personagens no livro). Na realidade não se chama Colina, mas é o café do meu bairro. Todos aqueles homens falhados, não são falhados. Levaram vidas difíceis, foram magoados e magoaram. Estão a viver isto como conseguem. A ideia da acumulação da personagem da Beatriz vem-me da Vivian Maier. A pancada da acumulação acontece muito a pessoas sozinhas, pessoas com passado conturbado. Acumular ou guardar coisas tem a ver com a fome da personagem do meu livro A Gorda. É uma forma de se encher de qualquer coisa, preencher um vazio, e penso que é o que acontece com a Beatriz e no íntimo da Vivian Maier. (Faz uma pausa). Vou continuar a seguir a Vivian Maier. Tenho uma inveja enorme daquele fulano que arrebatou as fotografias dela no leilão. [Quando Vivian Maier morreu em 2009, caixotes com os seus objetos e centenas de rolos de fotografias foram vendidos num leilão por um preço muito baixo. Ninguém sabia o valor importância do material fotográfico de Maier, que, entretanto, se tornou um fenómeno. Morreu sozinha.]


"A beleza sobrevive tudo" é uma frase dita na página 46, quando José evoca objetos que encontra no lixo que vai vender depois. Posso ligar esta frase à beleza do teu corpo e à beleza da Maria Luísa personagem d’A Gorda? A beleza é algo que temos de ter como uma convicção para que os outros a reconheçam em nós? E sobrevive mesmo a tudo?
(Risos) Isso são muitas perguntas numa só. Filosoficamente, a beleza sobrevive a tudo. Digo-te isto e estou a falar dos cacos que ele, José Viriato, coleciona. Às vezes olho para cacos que já foram um copo ou uma jarra e vejo que são bonitos. Olho muito para as coisas pequenas, para a cor das folhas no outono.

Essa beleza é incondicionalmente intemporal e universal e verdadeira. Depois há uma beleza nas pessoas que advém da sua condição humana, que é a beleza do feio. Aqueles homens no Café Colina são profundamente feios e desgastados pela vida. Porque é que olho para eles e vejo neles uma beleza feia? Porque há uma grandeza, e para se ver essa grandeza é preciso ter uma inocência de criança, que também é em si uma beleza. É uma tábula rasa. Como passo isso para o meu corpo? Não sei. Eu não vejo o meu corpo como um corpo belo, continuo a ter vergonha do meu corpo e vivo com ele. Aceito-o e preciso dele. Gosto muito dele enquanto veículo que me permite estar viva.
Veículo de prazer também?
Enfim, sim, ele permite-me ter acesso aos sentidos. É com ele que eu tateio, ou saboreio. É com ele que eu danço. Se me perguntares se tenho problema em vestir um fato de banho e ir para a praia, tenho sobretudo com pessoas conhecidas. Não é uma coisa que tenha resolvido em mim. Tenho respeito pelo meu corpo que é sagrado e me permite estar viva. Mas ainda tenho vergonha do meu corpo de gorda, cheio de marcas e cicatrizes. Mas ele é um objeto estético, sei que é possível olhar para meu corpo com esse olhar estético. Já me foram tiradas fotografias, completamente nua, pelo Paulo Sérgio BEju.

É muito bonita a ideia de uma escritora que posa nua.
Ele tirou-me fotografias numa ribeira da Madeira completamente nua, fui lá de propósito para isso. Nessa altura tinha feito o "sleeve gástrico" há pouco tempo e ainda estava bem gordinha. Vê-se a minha barriguinha e é lindíssima.
És uma mulher que não tem medo de ser fotografada nua, és uma mulher sexual nas coisas que escreves e dizes em inúmeras entrevistas. Defendes muito esse à-vontade sexual na personagem da Maria Luísa n’ A Gorda .... Consegues voltar à tua adolescência e falar-me dos teus ídolos? Quem é que te passou essa ideia de aceitação ou de liberdade sexual?
A minha sexualidade começou muito cedo. Houve uma coisa complicada no início. Eu recortava às escondidas, em todo o lado, publicidade de perfumes com caras muito lindas (começa a falar num tom declamado) como Ursula Andress ou Elizabeth Taylor. (Volta ao tom falado) Eram musas da altura, e eu às escondidas rasgava as folhas das revistas e fazia coleções. Não dava para explicar à minha mãe porque colecionava fotografias de senhoras, não eram homens. Eu estava a colecionar a beleza das mulheres, isso punha em causa a minha sexualidade. Eu não sabia bem o que era a sexualidade, mas para uma mulher, a minha coleção não era muito normal. No fundo elas eram modelos de mulher para mim. Há aí alguma coisa de iniciático. Interessavam-me todas as coisas que tinham a ver com a sexualidade. Lembro-me das imagens da Yoko Ono e do John Lennon e de ficar a olhar para aquilo fascinada.


Eram um casal inter-racial...
E muito liberto. Procurava em mim essa liberdade sexual, eu via que não existia. Eu gostei sempre de sexo e sofri quando não o podia ter. Houve grandes períodos da minha vida em que não tive sexo, porque eu não era um objeto sexual, e isso fazia-me sofrer. Na verdade, eu procurei sempre uma relação sagrada e saudável com o sexo, não como uma coisa suja, mas como uma coisa sagrada. Ainda procuro encontrar uma pessoa que me reconcilie com esse lado da vida que foi mal vivido e frustrado.
(Deixamos o restaurante onde Isabela acaba de almoçar, e avançamos para uma gelataria. A certa altura duas jovens reconhecem a escritora, são estudantes, uma delas de origem americana está a fazer um trabalho sobre O Caderno de Memórias Coloniais para a faculdade. Pede para ser fotografada ao lado de Isabela com grande alegria. Comemos um gelado e continuamos a entrevista.)
Tu passas muito tempo a observar as pessoas?
Passo muito tempo sozinha, por isso observo muito. Vivo sozinha, tenho as cadelas, não tenho namorado nem namorada, não tenho irmãos. Os meus amigos vivem longe, as minhas primas também. Tenho poucas pessoas que me deem apoio e também não pertenço a capelinhas, não pertenço a uma associação de escritores. Não tenho uma "grupeta" aqui em Almada.
Várias vezes, em entrevistas, disseste não querer na tua vida a comparação que pode existir entre alguns artistas. Tu queres manter-te à parte? É voluntário?
Essa ideia romântica do século XIX do Eça de Queirós, do Fernando Pessoa e do Futurismo de que estamos todos a falar de literatura, sentados a uma mesa, a ler as nossas coisas uns aos outros... Eu não acredito nisso. Acho que as pessoas vão estar a criticar-se umas às outras, a dizer mal, vão dar facadas nas costas umas das outras, acho que é o que vai acontecer (risos).

O teu livro A Gorda tem sido muito lido no Brasil, tem a ver com o facto de ser um país onde o corpo é celebrado de uma maneira muito livre? Diria que celebram os corpos muito mais que os portugueses.
Tem a ver com o facto de serem mais livres que nós. Viverem a vida de uma forma mais solta, saudável. Os portugueses têm medo de qualquer expressão emocional, de qualquer expressão da verdade. Nos brasileiros isso não existe. Não sei se segues o Joaquim Monchique no Instagram. Ele costuma pôr no Instagram vídeos de pessoas trans, muitas vezes brasileiras.
Delirantes?
São lindos. As pessoas gozam com aquilo, eu comovo-me. Há vídeos que podem ser cómicos, mas eu olho para aquilo e só tenho vontade de abraçar aquelas pessoas. Se fores de troça podes troçar, ou podes ficar fascinada como eu.
Tu queres estar próxima de pessoas assim?
Sim, porque são pessoas especiais. Que já ultrapassaram os limites do que é correto, ou conveniente. São pessoas que se libertaram. A liberdade é a pérola.
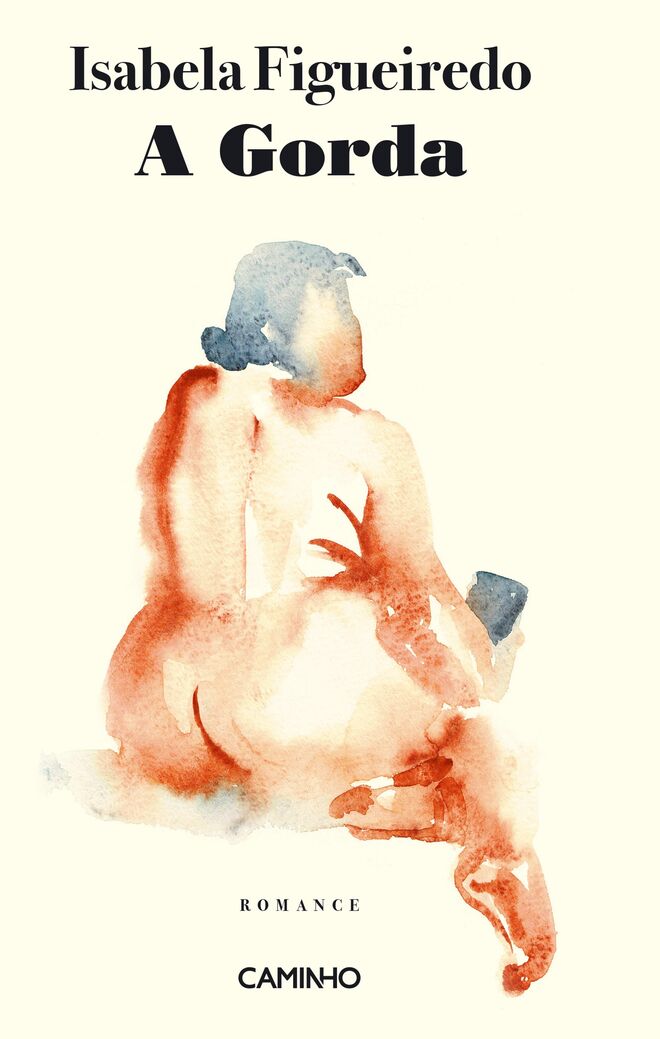
Há uma nova geração de artistas portugueses a celebrar África. Assistimos a Ana Moura a assumir as suas origens africanas, o Dino d’Santiago fala de uma Nova Lisboa mestiça. Evoco o tema, porque o racismo foi central no teu primeiro livro, Caderno de Memórias Coloniais, e no teu passado de retornada.
Olho para tudo isto com muito fascínio. Com muita vontade de ver o que se irá seguir. Adoro o projeto da Ana Moura, adoro como ela tira o Fado da tradição e o obriga a conectar-se com tudo aquilo que nós temos, com toda a nossa herança árabe e africana. Adoro a nova geração que vem questionar género, e que nos vem obrigar a olhar para o nosso racismo como uma coisa muito endémica e muito séria. Adoro que essa nova geração nos obrigue a questionar o clima e adoro que sujem os quadros todos. Acho que deviam ainda fazer pior. É preciso fazer alguma coisa forte. Qual é o preço de mudar o mundo? Para um mundo sem género, sem racismo, e com justiça social, económica? É estragar a Mona Lisa? Nós temos as imagens da Mona Lisa para sempre, mas eu preciso de um mundo novo. Eu quero esse mundo e, se o preço for esse, eu pago-o.
A personagem do José Viriato consegue ouvir o sangue que sai dos matadouros onde se matam os animais que nós comemos todos os dias nas nossas refeições...
Eu queria que ele dissesse as coisas que sente verdadeiramente sobre os animais. A sua dor, e a forma como ele está solidário. Como ele vê toda a carnificina dos animais. Eu também vejo. Eu queria tornar isso real. Eu quero que as pessoas pensem nisso, mas não quero obrigá-las a pensar como eu. Não quero que o leitor sinta que tem de ser vegetariano. Cada um tem de fazer o seu caminho.
Dizes em entrevistas que tentaste sempre esconder que eras retornada de Africa, mas neste livro os retornados são os "trouble makers", são os punks...
O José Viriato tem 54 anos, fui obrigada a situar a infância dele no 25 de abril. Quem eram os miúdos da Margem Sul? Quem eram os miúdos que vieram ocupar estas casotas? Eram os retornados, sobretudo de Angola. E eu própria me lembro desses "trouble makers" porque eu vivi com eles na escola, os retornados tinham má fama por causa deles.
Tu eras a certinha?
Certíssima. Mas tinhas aqueles que partiam lâmpadas e portas, cheios de raiva. Causavam-nos má fama. Acho imensa graça a isso, porque todos esses "trouble makers" rapidamente se tornaram adaptados à sociedade portuguesa. Hoje não sei onde estão... Mas eles estão aí (risos).
Há uma playlist de músicas, no início do livro, tem desde Três Tristes Tigres ao Antony and The Johnsons. São músicas que te acompanharam? O que queres que o leitor faça?
Quero que o leitor ouça. As músicas têm um ambiente, têm a energia das personagens... Ou da matadora, do José Viriato ou da avó ou do Café Colina. Do livro no seu geral. Eram músicas que eu ouvia sempre quando começava a escrever. Queres saber qual era a primeira música que ouvia? A do David Lynch com a Lykke Li. Cada música está ligada com um momento do romance. É para mim a banda sonora deste filme.
És uma mulher de sentimentos fortes? A tua vida ou é magnífica ou trágica?
Eu ando sempre à procura do caminho do meio. Eu não sou bipolar, mas tenho momentos de grande felicidade e de grande tristeza. E tenho consciência destes polos nos quais vivo, por isso tento ser muito consciente, muito racional, e vir "aqui" para o meio. Tento não cultivar muito isto. Ando sempre à procura de equilíbrio e consigo. Na solidão consigo equilíbrio, mas não posso ser solitária toda a vida. Tem de haver uma altura em que isto acaba.
*A fotógrafa que inspirou a personagem de Beatriz, também conhecida como Matadora no livro Um Cão no Meio do Caminho: www.vivianmaier.com


















