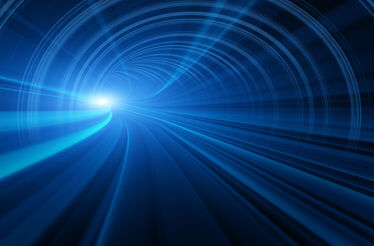Selma Uamusse: “O preconceito, quando existe, vem de casa”
Se nunca viu Selma Uamusse ao vivo, não sabe o que está a perder, nem do que ela é capaz: virar uma plateia do avesso e pô-la toda a dançar. Uma boa razão para ter ido vê-la ao festival Kalorama, ir à Gulbenkian ouvi-la cantar com Maria João Pires, em setembro, ou vestir a sua nova coleção de moda a sair em outubro.

Manhã muito cedo, ainda está no limbo do despertar, muito antes de cuidar das suas quatro filhas, e Selma já canta na sua cabeça. "Sabes, quando não estás, nem a sonhar nem bem a pensar? É naquele período em que a tua criatividade está no máximo, como um sopro divino. Entre o consciente e o inconsciente, fico muito lúcida, sei exatamente o que quero fazer, por isso a minha equipa está habituada a receber e-mails meus às seis da manhã, o momento em que tudo é, ao mesmo tempo, clarividente e inspirado", diz-nos Selma Uamusse, sentada numa esplanada de Lisboa numa tarde de verão, a mordiscar línguas de veado estaladiças. Fala suave e ponderada, sem a trovoada instintiva e poderosa que é a sua voz belíssima projetada em palco. "Inspiro-me no dia a dia, nos sons, nas expressões, no olhar, naquele momento de cumplicidade, em que sou só eu e tu."
Dá para ter uma ideia de como é esta mulher, nascida em Moçambique e criada em Lisboa, atravessa a vida sem olhar para trás, tirando para as suas raízes africanas que definem a sua música, e a enchem de orgulho, ritmo e cor, misturando-se com todo o tipo de influências. "Sou muito intuitiva em relação às canções. Faço muitas colaborações e quando alguém mas envia, percebo logo se vou conseguir fazer algo dali, entusiasmam-me as coisas mais imediatas." Selma é instinto e isso sente-se nos seus concertos, todos diferentes, onde, de repente, "lembro-me de fazer não sei o quê porque sinto que aquela pessoa vai sentir-se tocada". Por isso, é recorrente andar no meio do público e pô-lo a dançar como uma grande família.


És artista em nome próprio, mas és uma pessoa de pessoas. Na música, começaste num coro gospel e depois por colaborar com os Cacique 97, de Francisco Rebelo e João Gomes (Cool Hipnoise, Orelha Negra, Cais Sodré Funk Connection, Fogo Fogo), e depois Wraygunn, de Paulo Furtado aka Tigerman e João Doce (hoje Club Makumba). As pessoas chamam-te?
Nunca me imaginei a cantar, imaginava-me engenheira, por isso quando as amigas diziam: "Cantas tão bem, devias ser cantora!" penso "disparate, toda a gente canta!" Quando tive o desafio, em 1999, de me juntar a um coro de gospel, aquilo que me fez ficar foi exatamente essa ideia do todo. Quanto estás a cantar em conjunto, não é acerca de ti e, para mim, a vida é muito isto. É claro que, enquanto indivíduos, é importante valorizarmo-nos e amarmo-nos mas, em última instância, a vida não é acerca de nós, é no que acredito, e cantar no coro tem essa coisa quase sobrenatural de ouvires a tua voz colada às outras e, de repente, ganha uma força e um poder muito grandes. E mesmo quando há um solista a fazer coisas incríveis, quando o coro se junta há um elevar da mensagem que estás a cantar. Esta foi a minha primeira abordagem na música profissional e tem marcado o resto da minha vida: foi por causa do gospel que entrei nos Wraygunn. O meu maestro disse: "Selma, sei que ouves muita música e há aqui uma um bocado estranha, não sei se é satânica porque o líder tem umas tatuagens estranhas". Tinha uma que dizia Straight to Hell (risos). E eu respondo: "Wraygunn? São espetaculares, vamos gravar com eles!" E foi muito giro, o Paulo [Furtado] chamou o coro para gravarmos, o primeiro concerto foi em Paredes de Coura e depois quis ter sempre o coro nos concertos de Wraygunn. No início, éramos seis vozes, passámos a três e, um dia, recebo um telefonema: "Achamos que és a pessoa certa para fazer parte da banda." Estas foram as minhas duas primeiras escolas de performance e vocais e percebi a força que existe quando tens um conjunto de pessoas que performativamente, vocalmente, espiritualmente, emocionalmente estão juntas - o impacto da mensagem é muito maior e muito mais forte.

A importância da mensagem parece cada vez mais rara...
Quando me tornei cantora a solo, teve sempre a ver com a mensagem. Ainda tive uma banda de covers de nu soul em que cantava músicas das minhas cantoras divas, a Erykah Badu, a Jill Scott. Fui estudar no Hot Clube e lá éramos desafiados a ter o nosso ensemble, tive o Selma Uamusse ensemble, percebi que era completamente incapaz de cantar só jazz e repetir dop dop doo. E tive a ideia de fazer uma homenagem a Nina Simone, tinha a ver com mensagem, para mim era vazio não ter um grupo e um lado de intervenção, de pele.
Como é esse processo de passar das ideias às canções, nascem de sons, de frases?

O meu processo de composição é sempre colaborativo. Começou por ser: sei qual é a matriz, quero que tenha instrumentos tradicionais moçambicanos, que faça um cruzamento, seja com rock, soul, jazz, que tenha as várias camadas que tenho, mas sempre com outras pessoas a influenciar-me musicalmente. No que diz respeito às letras, ainda sou bastante possessiva porque as palavras têm muito poder e, para mim, é importante controlar aquilo que digo. Até há bem pouco, queria ser a autora de todas as canções que cantava, a menos que fosse uma versão que já quisesse fazer. As pessoas dizem: "Porque não canta mais em português?" E há várias razões: Moçambique está rodeado de países anglófonos e temos muita proximidade com o inglês, que acaba por ser uma segunda língua franca. E quero resgatar as línguas do meu país, para mim é muitíssimo importante. Sou neta de um avô assimilado, para ter um estatuto diferente na sociedade o meu avô escolheu rejeitar a sua cultura indígena e assimilar a cultura do colono (podia ir à escola, enquanto os indígenas só faziam a quarta classe e só viviam em determinados bairros indígenas, guetizados). Ainda este ano estive em Moçambique, no bairro da Mafalala que tinha uma linha que dividia a população negra da população branca, uma zona limítrofe onde os intelectuais negros começaram a criar movimentos e a reivindicar direitos. Isto significa que a minha mãe e os meus tios não falam fluentemente nenhuma das línguas de Moçambique, e nós temos mais de 40 línguas, então, de alguma forma, eu agora, com 40 anos, estou a aprender as línguas do meu país. Que têm uma fonética e sonoridade especiais, uma musicalidade muito diferente, senti que não só vou descobrir a minha identidade como moçambicana, como tenho uma música com imenso para descobrir. Às vezes faço canções só por causa dos sons das palavras, se calhar não é uma coisa muito profunda ou intelectual, mas leva-me para um lugar de ancestralidade. A que lugar do coração é que os sons nos levam? Fiz há pouco tempo uma composição com a Surma, que se chama Nhanhana, a canção tem um verso, e é vivida, de sons, de coisas que existem e que não existem. Isso de explorar as polifonias é muito importante nas minhas colaborações, estou a lembrar-me da que fiz com o Moullinex, ou com algumas bandas brasileiras, de repente, abrem um outro mundo.

Sei que vens de uma casa muito amada

Tenho uma família linda, o meu avô, apesar de assimilado (risos) foi super importante até por eu estar aqui. Os meus pais nasceram nos anos 50 e fizeram parte de um grupo que esteve ligado à emancipação da mulher, aos movimentos de libertação etc. Eram jovens muito politizados, a minha mãe queria ser médica, mas por causa do partido deixou a Medicina para estudar História e dar aulas de alfabetização pelo país inteiro. Eram aqueles jovens inspirados: "Vamos reconstruir o nosso país, há muita coisa para fazer." Os meus pais são da geração que finalmente teve instrução. A minha mãe formou-se muito cedo, acabou a universidade com 21, 22 anos, era um ratinho de biblioteca, o meu pai fez um curso técnico na Escola Industrial, porque Moçambique depois de se tornar independente, era um país comunista, e teve direito a uma bolsa de estudos na Alemanha/RDA, e começou por estudar Engenharia, mas a minha mãe quis fazer o mestrado em Estudos Africanos e seria mais fácil se o meu pai se transferisse para Portugal. Eu era pequenina e era mais fácil para mim por causa da língua. E já se percebiam aqueles tumultos da Queda do Muro de Berlim. Então, em 86, venho pela primeira vez a Portugal (na altura fui raptada porque era preta e dava sorte, mas isso é outra conversa um bocado bizarra) e em 88 mudámo-nos para Portugal, eu tinha quase sete anos, foi imediatamente depois do incêndio no Chiado.
Que memórias tens de infância?
Festas de família, uma família muito grande, o meu avô cantava e dançava e juntava a família toda, uma vez por semana. Tenho memórias de Moçambique em guerra civil, nós vivíamos ao lado de um comando da Força Aérea, e muitas vezes chegavam camiões com homens mortos e feridos, por isso também tenho muito presente o cheiro do sangue, assim como do cheiro a terra vermelha e o cheiro de chuva, as falhas de energia e as senhas de racionamento. Às vezes estou a cantar e faz assim um snap e começo a cantar uma coisa qualquer da minha infância, dos 3, 4 anos. Os meus pais nunca quiseram ser imigrantes e em 97 voltámos todos para Moçambique. Eu tinha 15 anos, senti que não me adaptava, a coisa mais importante do mundo são os amigos, então pedi aos meus pais para vir viver para Portugal. Fiquei a viver durante algum tempo em casa dos pais de uma das minhas melhores amigas que me acolheram. Apesar dos meus pais terem o ensino superior e trabalharem, a inflação estava altíssima, era muito difícil terem uma filha em Portugal, então comecei a trabalhar muito cedo para não ser um fardo. Esta é a minha história, de muito cedo ser independente: aos 15 anos já vivia sozinha, aos 16 já tinha um emprego e aos 17 era mais do que independente. Aos 18 entrei na universidade e consegui uma bolsa.
Quando abres a boca tomas conta de tudo e a Selma Uamusse és tu a misturar tudo: África e Europa, afrobeat, rock, soul, jazz...
Bom, durante muito tempo fui muito criticada por isso. Não quero entrar muito por essa conversa, mas as mulheres, em geral, são muitas vezes criticadas, ainda mais não sendo instrumentista: "Cantas tudo, o difícil é perceber o que vais fazer." Obviamente que não fiz a minha música assim para dizer nada a ninguém. Sou super grata à minha equipa, aos meus músicos e à minha agência por terem sempre acreditado em mim e tenho a noção de que a minha conquista é sempre no palco, mas estas questões geram insegurança. No outro dia fui cantar num festival onde a Ana Moura foi cabeça de cartaz, mas cantou primeiro porque, no dia a seguir, tinha um concerto muito cedo. Estava uma enchente, ela acaba de tocar, e eu fico assim... É um público completamente diferente, mas foi uma alegria porque mais do que sentir que havia pessoas que iam sendo conquistadas, foi perceber que estavam com uma abertura tal que se deixaram envolver, e outras conheciam, percebi: "OK o caminho está a ser feito." E lembrei-me do que o meu manager me disse quando começámos a trabalhar juntos, em 2014, e lhe disse: "Quero fazer música de Moçambique, dar a conhecer a cultura do meu país, ter uma carreira internacional e poder viver da música o resto da minha vida, se for possível." E ele "'Tá bem, mas tens noção que só daqui a 10 anos é que vamos poder dizer que estás a começar a tua carreira." É uma dureza muito grande, um caminho sempre resiliente, fazer algo diferente, ser mulher, ser mulher negra, apesar de hoje estar na ordem do dia – dizem-me: "Claro, és uma miúda negra e falas bem e mexes-te bem", mas tenho um percurso de 20 anos, ando aqui a trabalhar há imenso tempo e continua a ser difícil.

Sentes que o facto de seres africana pode ser um pau de dois bicos?
Uma vez um jornalista fez-me uma pergunta, primeiro fiquei ofendida, mas ele tem toda a razão. Perguntou: "Selma, como é que se sente por ser a única mulher negra imigrante neste festival?" E eu, do alto da minha vaidade, respondi: "Espero que me tenham convidado pela minha música." Mas fiquei a pensar e efetivamente eu era a única mulher negra imigrante, estava a ocupar um lugar novo, e essa novidade ainda tem um caminho muito grande a ser trilhado e normalizado, não é? Para mim tem sido muito inspirador, de alguma forma, ter aberto essa porta. Houve uma coisa que, para mim, foi super simbólica: em 2019, eu estava grávida e tive um aborto espontâneo, mas poucas pessoas sabiam, só o meu manager, e foi uma coisa muito dolorosa fisicamente, muito violenta, e eu tinha dois concertos, o da RTP e a abertura da temporada no D.Maria II. E tomei uma decisão, muito gerada por esta pergunta: se eu não estiver neste concerto, quem é que me vai substituir? Houve um sentido muito grande de responsabilidade em relação a esse lugar de fala e de ocupação e, na realidade, foram dois concertos muito inspiradores. Num deles estava a esvair-me em sangue, de fralda e não sei quê (risos). Na altura o programador do D.Maria, o Tiago Rodrigues, escreveu-me um cartão muito especial e a Gisela Casimiro, que é uma escritora de descendência guineense, escreveu sobre isso. Fui a primeira pessoa negra a cantar no teatro D. Maria II, estávamos em 2019. E ali sempre se reuniram as comunidades africanas. Estas coisas têm assim um simbolismo e uma responsabilidade muito grandes, mas animam-me quando recebo comentários mais misóginos e mais depreciativos que continuam a existir em 2023. E há depois o outro lado, a partir do momento em que determinadas pessoas têm um respeito e são fora da normativa, depois são só elas, não há lugar para outros e, portanto, sinto-me muito privilegiada, que tem acesso aos lugares das pessoas brancas, e de um determinado estatuto social. Às vezes sou convidada para fóruns, para falar de questões de racismo e, um dia, às tantas, disse: se olharmos à nossa volta, não vejo uma pessoa cigana, uma pessoa chinesa uma pessoa de outra descendência asiática, uma pessoa negra. Estou a falar para uma plateia de pessoas brancas e porquê? Porque, se calhar, as outras sentem que não pertencem aos lugares e que, em determinadas coisas, não são bem-vindas ou bem recebidas, é como uma cerca invisível, existe um lugar de privilégio ao qual não têm acesso.
Tens quatro filhas, já nascidas aqui, as novas gerações vão ser diferentes?
Sinto imenso isso nas minhas filhas em relação a tudo: às questões de género, de ética. Hoje existe muito mais mistura e os miúdos de hoje têm outra forma de lidar com as diferenças, eles querem ser diferentes e apreciam essa diferença, temos muito a aprender com eles. E o preconceito, quando existe, vem de casa, dos pais, sinto mesmo, ainda por cima tendo filhas mestiças, as amizades delas são muito distintas, não é uma questão a etnia, o background e questões socioeconómicas. E isso é muito engraçado porque estudei numa escola oficial onde havia muitos betinhos, e existia uma distância muito grande entre as pessoas que têm dinheiro, ou nome ou brasão, e as que não têm.
O que queres passar às tuas quatro filhas?
Há imensos assuntos! E vê-las crescer é muito especial, é quase Mulherzinhas. A mais velha tem 13 e a mais nova um ano, e elas nascem num tempo diferente, mas tenho procurado dar-lhes a conhecer um bocadinho de tudo, e uma coisa fundamental que é o respeito pelo outro. Nós somos pessoas cristãs e há uma passagem na Bíblia em que um discípulo pergunta a Jesus: "Qual é o maior mandamento? É amar a Deus, mas é amarmos o outro como nos amamos a nós mesmos". E eu bato imenso nessa tecla. É muito importante termos autoestima, sabermos que merecemos ser respeitados, e honrados por aquilo que somos, mas a questão de amar as outras pessoas, não é só ser bonzinho e simpático, é respeitarmos a individualidade, a diferença. Tu não falas mal de alguém porque é gordo, não admito determinadas coisas em casa que impliquem respeito em relação ao outro, e a elas mesmas, as coisas são sempre muito interligadas. Quero que elas cresçam fortes, mas nunca a pisar outras pessoas, e fortes porque vêem no outro muito potencial de amor. Somos uma família muito à volta do amor e ele é manifesto de uma forma física e no discurso, ninguém se deita zangado com ninguém, porque nos amamos e nos entendemos e nos respeitamos e isso é mais importante que tudo o resto, esta ferramenta do amor é muito poderosa. Num tempo e numa sociedade tão autocentrada, o olhar o outro, escutar o outro e entender onde está, é muito importante e eu sou muito chata em relação a isso. Hashtag tantas coisas e não somos capazes de passar pelo nosso vizinho e dizer bom dia? E nunca somos capazes de abdicar de nós pelo outro? Para mim é uma transformação constante e diária, por isso acordo mais cedo para poder ter tempo para refletir sobre quem sou eu e o que estou a fazer.

E o que sentes?
Sinto-me numa fase especial da minha vida, se morresse amanhã, estaria bem comigo mesma e não é por cumprir tudo, mas porque tenho vivido cada vez mas intencionalmente para ter uma vida com propósito. E as transformações que estão ao meu alcance, proponho-me a fazê-las e trabalho para conseguir tocar a vida das pessoas, dizer "eu estou aqui!" É um privilégio imenso poder ser ouvida num microfone, e numa entrevista e como é que usamos isso? É um privilégio poder ajudar, às vezes basta uma palavra ou um toque. As minhas filhas não ligam nada ao protagonismo, nem gostam de ouvir falar da mãe na escola, mas deixa-me super feliz ouvi-las dizer: "Mãe, tu fazes mesmo o que dizes." (risos)
Tiveste um verão cheio: cantaste no Festival de Sines, fizeste uma residência artística em Tróia, e culminou no concerto no último dia do Kalorama. Que projectos tens para a rentrée?
Porque estamos a falar de mulheres empoderadas e muito especiais, um sonho foi receber o convite - com a maior confiança, mas até acho um bocado insano - da Maria João Pires para cantar com ela, eu fiquei... Mas a Maria João Pires sabe quem sou? (risos) Esta coisa de mulher para mulher, de músico para músico, de colega para colega, é um reconhecimento muito grande do meu trabalho. Ela convidou-me no âmbito das Schubertiades, que são interpretações de peças de Schubert que tinham sempre como objetivo juntar pessoas e criar comunidade. Lá está, pessoas, união, para mim é tudo isto! [risos, começa a cantar Bob Marley: One love, one heart]. Se, por um lado, vou cantar alguns lieds de Schubert, por outro tenho toda a liberdade para vestir como quero. Vai ser um espetáculo em três partes, que acontece primeiro na Filarmonie, em Paris, 15, 16 e 17 de setembro e depois na Gulbenkian, dias 20, 21 e 22. Acho que ela está um pouco louca porque diz: "A Selma cante o que quiser e como quiser." E eu: "Ai meu deus!" Vou ter momentos sozinha e só eu e ela... Enfim, eu espero que possa ser o princípio de uma bela amizade. Estou histérica e super nervosa.
Quer dizer que a música erudita sabe descalçar-se, por assim dizer...
Sim, sim! Aliás, estava a falar com a cenógrafa e ela: "Com que sapatos quer ir, ou quer ir descalça?" "Ah, posso estar descalça?" E ela: "Pode, aproveite! Eu tinha-a imaginado com a sua liberdade toda, os cabelos, a saltar, descalça." Acho óptimo, para mim ou é saltos altos ou descalça. Tenho muitas coisas entre mãos, mas esta é a assim a mais... Estou a trabalhar para, no próximo ano, ter um disco novo, mas com calma, sem pesos nem pressas.
E como vai ser 2024?
Vai ser o ano de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, e no ano a seguir as comemorações das independências dos países africanos, estou a magicar algumas coisas, não só na música, mas dentro das artes plásticas e com outras mulheres. E uma coisa também muito especial: a Sami San, que me veste, convidou-me para fazer uma coleção Selma Uamusse e temos estado as duas a trabalhar. Acho que vai ser um desafio super engraçado, muito inspirado na forma como eu gosto de me vestir, inspirada nas capulanas, nesta figura feminina de Moçambique que precisa de cor e movimento. A ideia é ser transversal, que uma pessoa não moçambicana se identifique e abrace outros padrões e outras formas de vestir. Foi um desafio que ela me lançou e eu: "Porque não?"