Isabel Galriça Neto: "A dor da perda pode fazer com que as pessoas prefiram que um familiar seja mantido vivo a qualquer preço"
Escrito para acabar com mitos e medos, Da Ciência, do Amor e do Valor da Vida – Relatos e Padrões da Identidade dos Cuidados Paliativos é uma imersão num universo inevitavelmente marcado pela doença, mas onde também cabem o conforto e a empatia.

Referência incontornável nos cuidados paliativos em Portugal, Isabel Galriça Neto dedica-se a esta área há cerca de 30 anos. Em 1996, foi responsável pela criação da primeira unidade de cuidados continuados e paliativos no país, no Centro de Saúde de Odivelas. Dez anos depois, inaugurou o Departamento de Cuidados Continuados e Paliativos do Hospital da Luz de Lisboa, unidade que continua a dirigir. Professora universitária, participou na criação do primeiro mestrado de cuidados paliativos, na Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi ainda deputada pelo CDS até 2019, tendo estado envolvida na aprovação da Lei de Bases dos Cuidados Paliativos, Lei do Testamento Vital, Lei dos Direitos das Pessoas com Doenças Graves e em Fim de Vida, e Estatuto do Cuidador. Em outubro passado apresentou Da Ciência, do Amor e do Valor da Vida – Relatos e Padrões da Identidade dos Cuidados Paliativos (Oficina do Livro), um livro com várias facetas e propósitos, escrita do lado de dentro de uma unidade de cuidados paliativos. Tendo como ponto de partida a sua experiência profissional, partilha episódios e ensinamentos, alternando entre um registo mais confessional e outro mais técnico, sem nunca perder de vista a utilidade que a obra poderá ter para profissionais, mas também para doentes e para as famílias que atravessam um período de doença ou de luto. "Não é um livro triste", assegura à Máxima.
A primeira conclusão que resulta da leitura do livro é que prevalece uma certa confusão, para não dizer desconhecimento, sobre o que são os cuidados paliativos. Porque é que isso ainda acontece?
Há um facto que é inegável: o da iliteracia e desconhecimento sobre as situações em que a Medicina não cura, sobre o tipo de respostas que pode existir, sobre como lidar com o sofrimento das pessoas doentes. Essa iliteracia está muito ancorada no facto de as pessoas negarem a sua finitude, não quererem olhar para algo que é inevitável, fugirem disso a sete pés. A partir daí não só se constroem mitos, como deixa de haver vontade de perceber melhor a realidade das doenças graves e incuráveis. É quase como a ideia do menino que tem medo do escuro. Não se aproxima porque o escuro é mau e constrói uma fantasia sobre ele. Não falamos da morte com a ideia de que, se o fizermos, ela vai chegar mais depressa. O desconhecimento de uma realidade – que tem a ver com cuidados de saúde eficazes e que intervêm diretamente no sofrimento – só pode concorrer para que as pessoas sofram mais e desnecessariamente. O facto de existirem estes preconceitos esteve na base da decisão para escrever o livro.

Esse medo (também) é uma questão cultural?
Cultural ocidental, no sentido em que a Medicina, a partir da segunda metade do século XX e da descoberta dos antibióticos, endeusou-se, achando que era viável curar todas as doenças. Conseguimos, através da medicina, mas não só, avanços significativos do ponto de vista da longevidade. Mas não temos os mesmos avanços no que toca a proporcionar qualidade de vida, porque a medicina ergueu como fim único a cura das doenças. Há um triunfalismo à volta da cura e passou a deixar-se para trás as pessoas que não se curavam. E a finalidade da medicina é acompanhar todos os doentes, quer se curem ou não. Acredito que este conjunto de fatores concorre para as fantasias e preconceitos que levam à ideia de que ir para os cuidados paliativos é uma sentença de morte.
Prevalecem muitos ‘mitos’ em torno do que são os cuidados paliativos?

Ainda há pouco tempo tive essa conversa com o neto de um doente, que ficou muito surpreendido quando lhe disse que tínhamos de falar da alta do seu avô. É estranho que, ao fim de 30 anos de desenvolvimento desta área em Portugal, ainda haja tanto desconhecimento. Os paliativos não encurtam a vida dos pacientes. A ciência mostra que as pessoas podem viver mais tempo e com mais qualidade se receberem este pacote de tratamentos. Outro dos mitos tem a ver com a ideia de que as pessoas não têm alta. No caso do serviço de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz, 60% dos doentes tem alta (seja para domicílio ou para outras instituições). Também há a ideia de que os paliativos se destinam apenas a pessoas com cancro, o que também é falso. Tratamos doentes com AVC, com demências, com doenças-neuromusculares. Existem critérios clínicos muito precisos para que se considere que alguém tem a necessidade destes cuidados. Mas essa necessidade não significa que a pessoa esteja na iminência de morrer. Significa que tem uma doença grave e que a cura não é possível, mas o prognóstico pode ser de semanas ou de meses. Outro mito é o de que nos cuidados paliativos não se faz nada. Vamos fazer tudo o que o doente precisa. Mas os médicos não têm de fazer tudo a todo o custo, como tantas vezes a família pede.
Essa é outra das ideias centrais do livro.
O livro é feito por causa da questão dos preconceitos, mas também para dar voz a tantas pessoas que passam na sombra. Quis contar as suas histórias, que são histórias de vida, não de morte. O livro socorre-se delas para contar situações frequentes em cuidados paliativos. Uma dessas situações tem a ver com a ideia de que os médicos têm de fazer tudo para manter vivas pessoas com doenças graves e irreversíveis, à custa de sofrimento. Isso não tem nada a ver com a boa medicina nem com as boas práticas de cuidados paliativos.

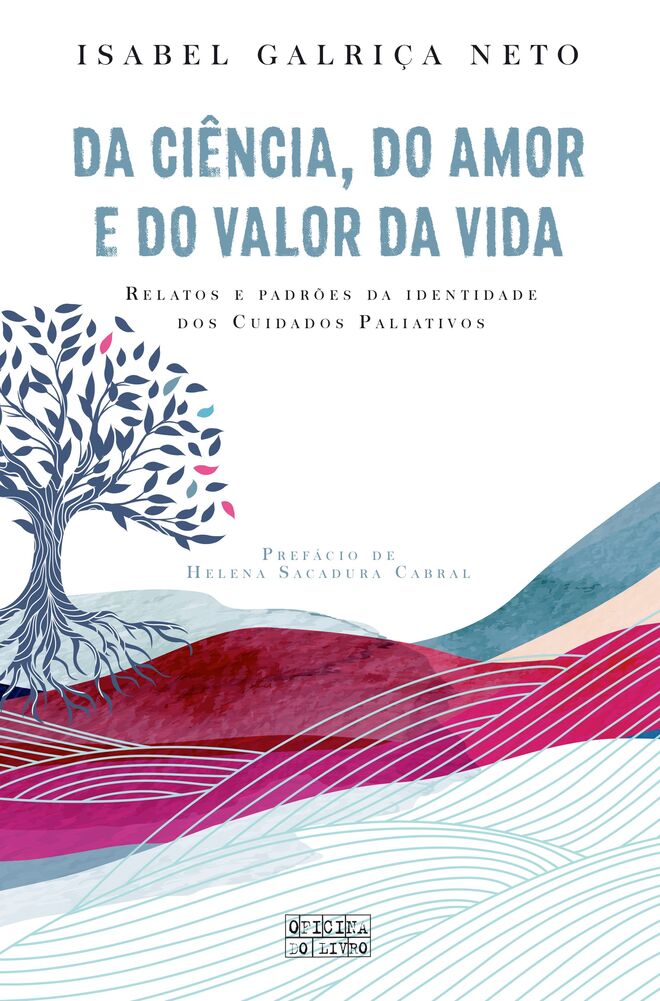
Como é que se faz essa gestão de emoções com a família?
O impacto destas situações clínicas não atinge unicamente o doente. Podemos dizer que há pelo menos três pessoas próximas que são afetadas por estas situações, que são de uma grande intensidade clínica, social e emotiva. Nós sabemos que a família vai sofrer e às vezes bem mais do que o doente. Também sabemos que, muitas vezes, estando o doente confortável e controlado, a família projeta o seu próprio sofrimento no doente (dizendo, por exemplo ‘ele está a sofrer’).

Qual é o procedimento, nesses casos?
Perceber se os familiares compreendem a natureza do doente e que expetativas têm. Porque, muitas vezes, chegam a pensar que o seu familiar se vai curar, porque a situação não lhes foi anteriormente explicada. É preciso rever as expetativas e mostrar quais são os planos, explicando que não é opção deixar o doente em sofrimento. A nossa missão é intervir ativamente no sofrimento não fazendo nada para prolongar a vida, como não fazer nada para executar a morte. As pessoas têm a ideia de que a medicina está obrigada – inclusivamente face a situações irreversíveis – a oferecer tudo o que conhece. A isso chama-se obstinação terapêutica – ou seja, realizar tratamentos que não são úteis e que agravam o sofrimento. É uma má prática.
Porque é que ela acontece?

Porque a dor da perda, se não for devidamente apoiada e enquadrada pelos profissionais, faz com que se perca de vista alguma razoabilidade. Faz com que as pessoas, para não perderem um familiar, prefiram que ele seja mantido vivo a qualquer preço. O contrato que estabelecemos é o de prestar os melhores cuidados, o que não significa o mesmo que fazer tudo a todo o custo. Às vezes, fazer tudo, é gerar malefícios e sofrimento. Muitos médicos têm uma enorme iliteracia para lidar com as questões de sofrimento e, face a esses pedidos dos familiares, é-lhes mais fácil aceder do que explicar... até porque eles próprios, se assumirem que curam todas as pessoas, se podem sentir como que derrotados. Mas, se conhecerem as nossas obrigações éticas, sabem que não devemos fazer obstinação terapêutica.
A interdisciplinaridade é um dos pilares dos cuidados paliativos, mas também refere a importância de uma abordagem holística. Porque é que isso ainda é tão pouco frequente na medicina?
O sofrimento é uma sensação de agressão e de múltiplas perdas que a pessoa experimenta em várias dimensões e que vão além dos aspetos físicos de doença orgânica. Implicam uma dimensão social, existencial, espiritual. O sofrimento é algo que não é experimentado apenas pelos órgãos, mas pelas pessoas. Se o objetivo dos cuidados paliativos é intervir ativamente no sofrimento para que ele nunca se torne intolerável, seguir apenas um modelo biomédico (que é aquele que só contempla as dimensões biológicas) implica falhar na resposta às pessoas. Temos de adotar um modelo biopsicossocial, que põe o doente no centro e nas suas várias dimensões. É por isso que têm de existir várias disciplinas e vários profissionais: um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social, um terapeuta, um farmacêutico, um assistente religioso. É preciso agir nas múltiplas dimensões do sofrimento. Mas é um processo complexo e exigente, implica uma articulação de recursos e a necessidade de ouvir outras opiniões e perspetivas. É uma forma de trabalhar que, em muitas instituições, ainda não acontece.

E a empatia também é algo que não se ensina nas universidades...
A empatia é confundida com simpatia. É importante que se tenha a noção de que a comunicação é uma ferramenta terapêutica. Tem de ser ensinada nas Faculdades e isso já acontece, mas ainda é uma área deficitária. Há preparação para usar medicamentos, para realizar procedimentos e cirurgias, mas há um menor enfoque, por exemplo, na forma como se vai transmitir uma má notícia. E isso faz parte da nossa atividade. Há protocolos para isso, é algo que se treina e que se ensina. Nas nossas reuniões, por exemplo, antecipamos determinados cenários e reações e discutimos as melhores formas de responder.
Além da componente técnica, também há espaço para o improviso, como as surpresas que preparam para doentes e que descreve no livro.

Isso é a vida! Há a visão redutora – entre profissionais e não só – de que os cuidados paliativos servem para ajudar a morrer. Não! Servem para ajudar a viver! Temos aqui pessoas que estão vivas. Não estão todos drogados, sedados, sem comunicar ou incapazes de manifestar desejos. Em função do grau da sua fragilidade, é nossa obrigação proporcionar-lhes o que desejam. Seja um convívio ou uma celebração especial. E isso faz parte do plano terapêutico.
A forma como alguém reage a esta fase final estará dependente de múltiplos fatores. No entanto, parece sobressair uma certa admiração por quem tem a capacidade de se despedir da vida com serenidade ou sabedoria. É legítimo?
Temos o privilégio de, com os conhecimentos que temos, tentar dar ferramentas. Mas quem vai fazer o caminho são as pessoas e a forma como ele é feito não pode envolver nenhum julgamento da nossa parte. Há muita gente que morre com coisas por resolver. No livro falo desses arrependimentos. É evidente que as pessoas não acabam todas da mesma maneira. Mas aquilo que vemos, é que se trata muito mais de sofrimento existencial do que de sofrimento físico. E isso tem a ver com a forma como se viveu. O nosso papel nesses casos é também apaziguar. O que é penoso é saber que 70 mil portugueses não dispõem dos meios para chegarem a ter essa possibilidade. Saber que existe tanto sofrimento tecnicamente desacompanhado.

Porque é que a maioria dos portugueses não tem acesso aos cuidados paliativos?
Não é por questões financeiras. Essa falta de acesso decorre de questões geográficas (há zonas do país que não estão contempladas com equipas), de questões de preconceitos (e da tal ignorância de profissionais e da sociedade em geral) e da falta de recursos humanos e de investimento. No SNS isso acontece com frequência. Não existem equipas dotadas e capacitadas em número suficiente para atender às necessidades.
O que é que está a acontecer a esses 70% que não tem acesso a estes cuidados?

Estão no sistema de saúde, mas desacompanhados. Vivemos numa sociedade em que se defende que o sofrimento é razão que baste para acabar com a vida de alguém, mas esse mesmo sofrimento não é razão para sermos mais ativos e veementes para apoiar quem sofre. É uma falha da sociedade e do Estado.
Porque é que parece inevitável colar o discurso sobre cuidados paliativos com a questão da eutanásia? Não se trata da mesma coisa...
Não e é lamentável que isso aconteça. O meu livro não é um livro de ativismo contra a eutanásia, mas naturalmente perpassa a minha opinião pessoal e a minha experiência com doentes. É lamentável que não se fale mais de cuidados paliativos. Um sistema de saúde moderno tem de incluir estes cuidados. Recentemente, tive oportunidade de ler declarações em tempos proferidas pela antropóloga Margaret Mead que dizia que um sinal de evolução civilizacional tinha sido encontrar um fémur tratado e cicatrizado, porque representava a capacidade do homem importar-se com o seu semelhante. Não creio, de todo, que a eutanásia seja um passo de evolução civilizacional. Uma sociedade moderna cuida dos mais vulneráveis.
E, nessa perspetiva, onde fica a liberdade individual?
É uma pseudoliberdade. Quem vai decidir sobre um pedido de eutanásia é uma comissão de médicos, que o pode negar. Trata-se de uma deliberação de terceiros sobre a sua liberdade. Se a liberdade fosse um valor tão absoluto não haveria um comité a decidir. Aquelas pessoas que virem os seus pedidos vetados são menos respeitadas na sua autonomia? A negação do seu pedido é uma negação da sua liberdade? Não concordo com a ideia de que a eutanásia seja uma questão de respeito pela liberdade. A autonomia é entregue a um comité, o que considero extremamente perigoso. Por outro lado, já temos exercícios de liberdade e de autonomia. A lei dos direitos das pessoas em fim de vida, de 2018, fala disto tudo. O doente tem a liberdade de recusar tratamentos, de não ser internado, de discutir o que pretende fazer. Isso são exercícios de liberdade. Agora quando sei, nesta lei, que podem ser eutanasiadas pessoas que podem estar profundamente afetadas por problemas de saúde mental, pergunto: com que liberdade é que estas pessoas estão a fazer os seus pedidos? Isto é perigosíssimo.
E os outros casos de sofrimento que não encaixam nessa descrição?
É interessante pensar que, independentemente das situações que possam ser de sofrimento, se vá buscar casos pontuais para fazer leis que são generalizadoras e que podem ser facilmente abusadas. Para casos tão pontuais de sofrimento extremo existem os tribunais. A excecionalidade nunca foi razão para fazer lei, muito menos uma lei que, com base no sofrimento, permite que as pessoas possam ser mortas. E as razões desse sofrimento vão-se alargando, como está à vista no Canadá e na Holanda. No Canadá são 28 eutanásias por dia, na Holanda são 24. Isto tem alguma coisa de excecionalidade? Tenho o maior respeito e não julgo as pessoas. O que me causa espanto é que não se fale das dezenas de milhares de pessoas que estão em sofrimento desacompanhado. Essas não têm voz. Para se forçar a aprovação de uma lei só se fala dos pseudocasos excecionais. Qual a posição da sociedade face às pessoas que estão em sofrimento desacompanhado? Foi também por isso que escrevi o livro, para dar voz a essas pessoas.

