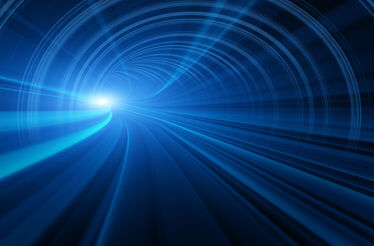Entrevista Ana Nunes de Almeida: “Surpreendeu-me a Igreja não ter posto as vítimas na linha da frente das suas preocupações"
A socióloga e investigadora da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica fala à Máxima do relatório que agora revela números sobre os abusos sexuais praticados por entidades da Igreja em Portugal, e das mais recentes reações da mesma quanto à “famosa lista” [de nomes dos alegados abusadores].

Ana Nunes de Almeida responde-nos, numa primeira fase por e-mail, com indícios de exaustão. Foram vários meses, incansável, a erguer aquele que é o relatório mais completo, até hoje, dos abusos sexuais praticados pela Igreja Católica em Portugal, a par daqueles que já se fizeram noutros países europeus. Portugal não foge à regra, mas tem estatísticas próprias. Encontramo-nos com a investigadora no ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para uma conversa que se adivinha difícil mas necessária.
Ao longo de quase 500 páginas de análise, 365 chamadas telefónicas depois, centenas de testemunhos virtuais e presenciais, pesquisa histórica e enquadramento sociológico entre 1950 e 2022, as estatísticas no relatório "Dar Voz ao Silêncio" deixam a Igreja Católica portuguesa numa situação de beco sem saída – ou pelo menos com urgência de resposta e resolução. Para nomear algumas, sabemos que 48% das pessoas que contactaram esta comissão, para preencher o questionário que esteve aberto durante meses, foi a primeira vez que falaram dos abusos que sofreram. Que a média das idades das vítimas anda à volta dos 50 anos. Ou que entre as vítimas há 57,2% homens e 42,2% de mulheres (uma estatística surpreendente, para os investigadores). Que os distritos mais depoentes foram Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Leiria, por esta ordem decrescente. Entre tantas outras estatísticas que não se resumem a números, mas sim a pessoas. No fim, foi a partir de 512 testemunhos que se realizou a amostra. Estima-se que houve, no mínimo, 4815 vítimas.

Ana Nunes de Almeida tem 66 anos, e doutorou-se em Sociologia em 1991, no ISCTE. É atualmente investigadora coordenadora no Instituto de Ciências Sociais e Presidente do seu Conselho Científico, tendo realizado estudos em torno da infância, ligados aos riscos da internet, às escolas e ainda aos abusos sexuais no meio familiar - trabalho que a tornou uma referência nesta área, logo nos anos 90 do século passado. Desenvolve pesquisa na área dos maus tratos às crianças, culturas infantis e catástrofes, crianças e animais, a ética na investigação com crianças. Há mais de 30 anos que se debruça sobre a questão dos abusos sexuais na infância. À Máxima, narra os meses intensos deste levantamento, mas não deixa de reagir à forma como ele é, agora, encarado pela Igreja Católica portuguesa. Sentada no seu gabinete, não esconde o desapontamento pelas últimas declarações públicas feitas no rescaldo da apresentação oficial de "Dar Voz ao Silêncio" e confessa: "é impossível não me enervar a falar disto."

Foram meses desgastantes. Qual é a sensação de chegar ao fim, sem ainda ver um desfecho? Pelo menos um que faça justiça às vítimas.

Convivi durante muito tempo com experiências de grande devastação de vidas humanas, níveis de sofrimento aos quais não estava habituada, durante um ano andei a fazer força, como investigadora e cientista, para estudar, produzir conhecimento da realidade, sabendo que temos de ter distanciamento e ter protocolos. Chegando ao fim, quando o trabalho acaba, é muito intenso. De repente, tudo o que estava cá dentro sente-se como uma vibração muito forte e muito desestabilizadora do ponto de vista humano. É normal, o sofrimento das vítimas é inimaginável. Uma pessoa que não passou pela situação não consegue perceber: o abuso sexual é uma ferida mesmo no interior, no corpo, profundo, da vítima.
Este estudo reforçou essa noção? Há vários anos que trabalha estes temas do abuso sexual de menores.
Só com psicoterapia, estou convencida, só com acompanhamento técnico é que as pessoas conseguirão aprender a viver com esse trauma, porque ele está lá sempre. Tivemos reuniões presenciais com vários tipos de vítimas, percebemos que umas tinham ultrapassado a situação e tinham vidas relativamente estáveis, gratificantes do ponto de vista afetivo e familiar, mas [falámos com] outras em que, pelo contrário, o impacto do abuso foi de tal maneira intenso que ainda hoje são pessoas destroçadas, não conseguem ter um projeto de vida que as realize e estão em profundo sofrimento apesar de décadas terem passado.

Os maus tratos às crianças, a família, a escola - foram sempre temas na sua área de atuação. Sempre quis ser socióloga? Analisar a infância?
É uma história muito cómica. Eu tinha 17 anos no 25 de Abril, e até aí fiz sempre a fileira científica, porque eu queria ser investigadora - é verdade! -, mas em Física Nuclear, a parte mais abstrata da Física. Veio o 25 de Abril que foi uma revoada em muitos aspectos, preparámo-nos para um país em mudança, eu vivi tudo isso muito intensamente, participei, e comecei a achar que se calhar a Física não era o meu lugar. Pensei em Filosofia e em Direito, e estava mais ou menos convencida com o segundo. Do 5º para o 6º e 7º anos [do liceu], apanhei a reforma de Veiga Simão em que podíamos escolher as disciplinas à la carte. Eu escolhi Física, Matemática Moderna, Inglês, História, Português e Organização Política e Administrativa da Nação, aquilo dava-me para uma data de cursos. Quando ia para Direito, deparei-me com a Faculdade de Direito fechada por causa das convulsões que se viviam na altura; fiz o Serviço Cívico na Comissão da Condição Feminina quando era chefiada pela Maria de Lourdes Pintasilgo, e portanto assisti miúda àquelas discussões sobre a revisão do código civil, apanhei a Leonor Beleza novíssima, com 20 e poucos anos, foi giríssimo. Acabei por ir para Genebra, onde estudei Sociologia. Seria feliz a fazer muitas coisas…


Mas já se aproximava um bocadinho do domínio social, das pessoas.
Sim, da investigação, da mudança, isso começou-me a interessar, a parte social, da intervenção. Sou muito feliz com as minhas escolhas.
Entre as últimas coisas que abordou nos seus estudos estão temas ligados à atualidade: da escola às crianças na internet. Sempre percebeu que era urgente analisar a criança na sociedade portuguesa?

Fui aproveitando as oportunidades de financiamento, sempre estudei mulheres, trabalho e fecundidade, mas no que se refere à infância também foi um pouco por acaso. A certa altura, nos anos 90, o Centro de Estudos Judiciários convidou-me para fazer um estudo sobre maus tratos à criança na família, e eu até aí nunca tinha trabalhado sobre crianças. Nós fizemos esse estudo, e a partir daí os meus colegas começaram a ver-me como uma especialista da infância. Achei tão interessante aquele tema, para explorar, que me lancei em cheio e já não saí.
Estabeleceu-se a Convenção sobre os Direitos da Criança em 1989, em 30 anos o que mudou cá?
Em Portugal há imenso a fazer no campo do direito das crianças. Precisamos de olhar com muita atenção para as crianças como cidadãos de primeira. Houve um progresso enorme com a democracia, as crianças estão na escola, as crianças têm direito à educação, as famílias mudaram imenso, o lugar das crianças na família é muito diferente. Mas quando olhamos para indicadores como a pobreza, para as condições materiais de vida de milhares de crianças em Portugal, com tudo o que isso implica de negação de direitos de proteção e de provisão e sobretudo quando olhamos para os direitos de participação (os três P’s da Convenção) percebemos que estamos muitíssimo longe de tudo. No caso da pandemia, vejamos toda a política do Governo sobre abertura e fecho de escolas – alguma vez as crianças e os adolescentes foram ouvidos? Foram completamente postos de parte da equação. Em Portugal as medidas foram extremas, comparativamente a outros países europeus, houve crianças a estar dois anos em casa. A escola continua a ser um meio muito conservador, apesar dos esforços incríveis de professores que conseguem resistir ao rolo compressor do Ministério da Educação. Não tem nada a ver com as maneiras de aprender, de ensinar, de avaliar…de outros países, nos quais se valoriza a criatividade, o trabalho de grupo, a escolha, e se tenta incutir o espírito de autonomia, entre outras coisas.


Antes de 2021, tinha alguma ligação ao trabalho do médico pedopsiquiatra Pedro Stretch, e à Comissão?
Nenhuma. A sede convidou o Pedro Strecht, ele disse que precisava de uma equipa e que iria escolhê-la em função das valências profissionais. Eu era alguém da Sociologia que tinha trabalhado sobre a infância e que tinha feito um estudo sobre maus tratos às crianças na família, era um perfil adequado. Depois, o Daniel Sampaio, psiquiatra que trabalha muito junto dos jovens; a Filipa Tavares que é assistente social e terapeuta familiar, e que tinha trabalhado em instituições ligadas às crianças; o Álvaro Laborinho Lúcio, com uma importância enorme no Direito português e na abordagem do direito das crianças; e propositadamente estava, de fora [destas áreas], a Catarina Vasconcelos, cineasta, para ter alguém da sociedade civil desligada da área, profissionalmente, e para fazer as perguntas incómodas. E que também trabalhou a imagem gráfica da comissão e fez ainda os contactos com os meios de comunicação. Criaram-se ligações afetivas muito fortes entre os seis.

Qual foi o seu papel ao longo do processo?Foi o de encarar esta questão como um projeto de investigação que tinha de ser feito. Pensar e discutindo com todos o modelo de análise, as opções metodológicas, o que íamos fazer para tratar a informação, construir o relatório. Eu tinha essa experiência, de fazer acontecer um estudo, de produzir conhecimento. Tinha de ser um estudo multidisciplinar, com a parte jurídica, sociológica, da psicologia, da psiquiatria, encaminhar essas abordagens todas para chegar a um método coerente. Foi desde logo um empenho e um envolvimento total.
As pessoas, vítimas, falaram porque perceberam que a abordagem não era clínica. O fator humano era importante desde o início?
Os testemunhos que nós recebemos foram de pessoas que perceberam que não éramos da Polícia Judiciária, era tudo anónimo, que éramos independentes da Igreja, que a Igreja não tinha qualquer acesso à informação, as pessoas sentiram que podiam falar sem serem julgadas. Éramos um grupo de profissionais que sabíamos lidar com a questão, e nos quais as pessoas podiam depositar confiança, que não íamos duvidar. A situação da dúvida era uma situação com que se tinham confrontado várias vezes ao longo da vida, como a culpa. Nós tínhamos o inquérito online que as pessoas preenchiam anonimamente, mas também houve quem preenchesse através do telefone. Foram a psicóloga clínica Ana Sofia Varela e a Filipa Tavares, com muita sensibilidade, quem fez as chamadas. Tivemos o máximo de cuidado ao ouvir, e no final tivemos sempre uma grande preocupação para perceber se as pessoas estavam bem, mesmo depois de falarem. Muitas das pessoas vinham verdadeiramente tensas e em grande sofrimento, tentávamos criar um ambiente do mais acolhedor possível. Houve vítimas que continuaram a falar connosco ao longo de todo o processo.


Em novembro, com o surgimento dos primeiros números, sabia que seriam muitas mais vítimas?
Não tinha dúvidas nenhumas de que Portugal não era nenhuma exceção nem nenhum oásis. A importância da Igreja Católica é enorme. Se aconteceu nos outros países, não havia razão nenhuma para pensar que não tinha acontecido em Portugal. A minha grande preocupação, a nossa grande preocupação, era fazer chegar o apelo ao testemunho, que as pessoas tivessem coragem de falar. Isso é que era o grande desafio, e que foi muito difícil de divulgar. Se não fossem os órgãos de comunicação social não conseguiríamos.

E as pessoas? Colaboraram? A Igreja?
Do ponto de vista da sociedade civil, da Igreja, foi uma reação muito contida. Este apelo não chegava pondo anúncios nos websites das associações. Houve um envolvimento grande para chegarmos às vítimas. A nossa grande dúvida era se conseguiríamos fazer passar a mensagem de que éramos uma comissão independente e de que valia a pena testemunhar. Fizemos esforços hercúleos. Dos jornais locais, às farmácias, aos centros de saúde, cartas para todos os Presidentes das Câmaras… Mas se aparecessem bispos na televisão teria sido melhor. O bispo auxiliar de Braga, Nuno Almeida, foi a exceção, num colóquio fez um apelo veemente ao testemunho, fantástico. Mas quer dizer, não houve um envolvimento em força da instituição, algumas paróquias puseram o nosso cartaz à entrada, mas foram raríssimos os que nas missas pediram para participar.
Falando das métricas em si. Alguns resultados mais surpreendentes que outros, para si? Fala-se na paridade, em comparação com outros países europeus…
Sim, realmente existiu [paridade]. Fiquei surpreendida por haver uma percentagem tão grande de padres entre os abusadores, de predominarem as modalidades de abuso com invasão do corpo da vítima, os impactos devastadores que tem o abuso na vida das pessoas. Repito-me, mas digo sempre que na minha cabeça tinha uma escala de sofrimento. Ou seja, que existiam formas de abuso, modalidades de abuso, que desencadeariam níveis de sofrimento e de trauma mais do que outros. Por exemplo, cópulas, sexo anal, comparativamente a toques ou insinuações - que seriam mais gravosos do ponto de vista da vida da pessoa. Essa minha escala foi totalmente desconstruída, encontramos mulheres com vidas destruídas que sofreram essas formas de abuso que aparentemente poderiam ser consideradas "ligeiras" (aspas, aspas, aspas).

Como socióloga, que estratégias usaram os abusadores em termos de manipulação para levar aos abusos?
O poder sobre a vítima. O abuso sexual é sempre uma relação de poder. Aqui nós notámos, pelas narrativas das vítimas, que esse poder tinha realmente uma dimensão absolutamente perversa. Era o poder do adulto sobre a criança, um adulto que a criança conhece, que está no seu meio mais próximo, que a família conhece, que é muito sedutor em geral, atraente do ponto de vista daquilo que faz com as crianças, na escola, na paróquia; como o adulto que está investido de um poder espiritual. E isso é uma grande ascendência. A ideia que a criança tem de que está diante de alguém que representa Deus, que é quase divino. Por um lado, deixa a criança sem capacidade de distanciamento para dizer que não. "Porque Deus é bom, porque Deus quer o meu bem." É isso que é ensinado. É duplamente perverso. E isso também tem consequências no medo que a criança tem, muitas vezes ameaçada. A criança muitas vezes vinha aterrorizada, mas mesmo sem ameaça direta, não havia crença de que alguém fosse acreditar.
No relatório, quando perguntam às vítimas o que fazia o agressor para as convencer, respondem "nada", quase sempre. Mais uma prova desse poder invisível?
Isso é o expoente máximo do poder: não precisavam de dizer nada, nem de chamar. A proximidade afetiva e física no quotidiano que tem o abusador da vítima mostra a capacidade total de manipulação e isso também é um fator de silenciamento.
Os dados mostram que os abusos foram, maioritariamente, sofridos por pessoas nascidas nos anos 70. O que espelha este dado?
É verdade. O 25 de Abril não teve um impacto imediato nesta questão. Os picos são [anos] 60 a 90. Em primeiro lugar é natural que as pessoas mais velhas tenham testemunhado menos, são mais velhas, está tão para trás que se calhar não tiveram vontade de testemunhar, ou não conseguiram aceder ao questionário. O facto de os abusos terem decrescido nas décadas mais próximas de nós pode ter a ver com um tipo de educação diferente que as crianças têm, que se sabem defender melhor dos eventuais abusadores, relações familiares mais abertas em que as crianças podem contar e os pais estão mais atentos aos riscos que a criança pode correr. Não sei se a própria legislação que houve sobre crimes públicos pode ter alguma influência e colocado algum travão nos abusadores, mas é preciso contar que as que sofreram abuso mais recentemente levam mais tempo a falar deles. No nosso trabalho mostramos que há um gap entre o momento do abuso e o momento em que a pessoa é capaz de falar dele. A média são 10 anos, claro que há pessoas que levaram 30.
Do ponto de vista dos testemunhos, houve famílias que quiseram denunciar vítimas familiares já falecidas?Houve sim. Num caso em particular, uma irmã denunciou os abusos a que assistiu do irmão mais novo, mas que o irmão nunca se tinha apercebido que ela sabia. Muitas outras pessoas que vieram testemunhar sobre amigos, sobre netos, sobre filhos… Até na altura tomaram iniciativa junto da Igreja e os processos não foram para a frente. Sentiram-se agora com o dever ético de vir falar desses crimes.

A pesquisa histórica foi difícil? Como foi a reação a essas consultas?
Essa etapa foi a última etapa do nosso trabalho de campo. Já tinha sido feito um trabalho muito grande de construção de confiança com os bispos, com os provinciais. Ao princípio não foi fácil porque apesar da assembleia, numa conferência episcopal, na primavera, ter dado luz verde para a abertura dos arquivos históricos, houve a intervenção do núncio apostólico em Lisboa, que falou com o cardial patriarca, e que por sua vez pediu uma autorização do Papa, do Vaticano. A autorização só veio em junho, estivemos meses à espera, e só a partir daí é que a equipa de historiadores começou a trabalhar com os bispos em várias etapas - dos contactos à solicitação do preenchimento de informação quantitativa do número de casos nas dioceses e por fim a ida a todos os arquivos. Com os nomes que foram encontrados na base de dados da comissão independente, e outros que entretanto descobriram através da data e do local do abuso, foram para os arquivos estudar. Houve bispos que desde a primeira etapa disseram "façam o vosso trabalho", outros mais difíceis de convencer, mas todos eles abriram os arquivos.
Como encontraram os arquivos?
Claro que estes são pobres em informação… Até 2010 os casos eram tratados informalmente (pela Igreja). Os historiadores não iam à caça dos abusadores, queriam era perceber, do ponto de vista arquivístico, como é que a Igreja lidava com os casos. Há uma grande diversidade de práticas, percebeu-se que há arquivos que têm décadas em falta, que os documentos não estão lá. Muita coisa.
A Igreja pede agora rostos. Há uma justiça clerical e outra judicial? Como vê esta reação ao relatório?
Estou completamente estupefacta. Há um contraste enorme entre a decisão de realizar um trabalho, de encomendar um trabalho a uma comissão independente, dando-lhe total liberdade para fazer o estudo conforme o entendem, e depois aparecerem de repente numa conferência de imprensa com umas características estranhíssimas, quer do ponto de vista prático, quer do ponto de vista substantivo, em que não há nenhum rasgo estratégico para lidar com esta questão, e sobretudo refugiando-se numa argumentação administrativa e jurídica que nem sequer tem em conta as recentes diretivas do Papa Francisco. O que me surpreendeu foi a Igreja não ter posto na linha da frente das suas preocupações as vítimas. Isto é uma tripla vitimização. Estamos outra vez a ouvir que é preciso contraditório, que é preciso prova dos factos. Ou seja, os nomes que foram entregues na famosa lista (que até foi ridicularizada como se se dissesse: "isto são só nomes e até há sacerdotes que estão mortos") são só nomes porque isto é um processo de chegada. Todos estes nomes foram trabalhados com os bispos e com os provinciais, no sentido de serem informativos. Os nomes apareceram. Nós fizemos o nosso trabalho, agora a Igreja que faça o dela. Estes nomes foram aparecendo nos testemunhos destas vítimas, que descreveram os crimes de que foram alvo, que deram informações sobre as modalidades do abuso, sobre o local e o ano do abuso, ou seja são nomes que não são desconhecidos pelos bispos e pelos cardeais. Houve bispos que levaram muito a sério estes nomes e começaram imediatamente a fazer uma investigação.

Há aqui uma grande contradição entre a cooperação prévia e a reação pública?
Há. O bispo auxiliar de Braga já começou a dizer que é evidente que se pode fazer a suspensão de sacerdotes enquanto decorrem as averiguações, desmentindo o cardeal, como é óbvio. É o discurso de sempre: que até prova em contrário não é para acreditar nas vítimas, que temos é de defender os abusadores. Ninguém está a acusar ninguém, eu até acho que um sacerdote, sobre o qual recaem dúvidas, ele próprio pode dizer que "vamos embora, se há a imagem ética da Igreja".
Mas há dados…
Sim, sobre as pessoas, e claro que há dados de gravidade diferente. Há desde as pessoas que realmente abusaram em seminários de formas execráveis, de forma repetida, aos outros casos que no início da conversa classificava como "leves". Portanto, não pode ser visto como um todo. Estas vítimas estão vivas, e se um dia elas quiserem contar a sua história, se um dia elas quiserem receber o apoio da Igreja através de canais de apoio psicoterapêutico, elas podem pedi-lo.
São pessoas, algumas, que terão a vida suspensa pelos abusos e que ainda poderão reconstruí-la se virem justiça?
Exactamente, como é óbvio. Eu, Ana Nunes de Almeida, não tenho acesso à lista, há um acordo de confidencialidade feito entre os historiadores e os bispos e provinciais. Eu não vi a lista final.

Em relação às vítimas, nomeiam ou não?
A maioria não nomeia. Diziam que não queriam vingar-se de ninguém. Em parte alguma do inquérito isso lhes era perguntado. Algumas, por iniciativa, referiram. Assim como as vítimas, que no inquérito se identificaram, dizendo que estavam disponíveis através de um e-mail ou telemóvel.
No fim do relatório, divulgam uma lista de recomendações dirigidas à sociedade civil e à Igreja. O que queria ver já feito?
Aquela recomendação mais geral e mais abstrata que nós fazemos, que é mudar o paradigma, uma outra cultura em relação à vítima, isso é que se mostra urgente. Sem colocar a vítima no centro de toda esta reflexão, não há nada que se consiga fazer de coerente, de ajustado, e de justo em relação às pessoas que sofreram tanto. Está-me a parecer que, de facto, o que é mais prioritário na Igreja é todos convencerem-se que há uma página que foi virada, que as diretivas do Papa Francisco são para ser levadas a sério e que tudo isto tem de ter consequências. E que são consequências no sentido de respeito pelas vítimas, elas têm de ser a primeira preocupação, a prioridade de tudo.
Esta reação espelha o posto firme que a Igreja tem em Portugal?
O que está em causa é a representação que a maioria dos bispos tem de si próprios, no sentido de considerarem que vivem numa bolha, num nível superior ao comum dos mortais, que não têm de prestar contas, que estão confortáveis no seu lugar de decisão, que são donos do seu reinado e portanto que têm uma espécie de intocabilidade. Nem todos os bispos são assim, de maneira nenhuma, sei que há bispos dentro da Igreja - e o próprio bispo [José] Ornelas - que querem que o nosso trabalho tenha consequências. Agora o que se passou na Conferência Episcopal Portuguesa [CEP] fica muitíssimo aquém daquilo que era expectável. É desonestidade intelectual.