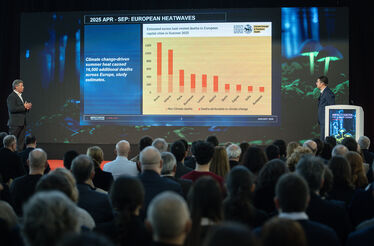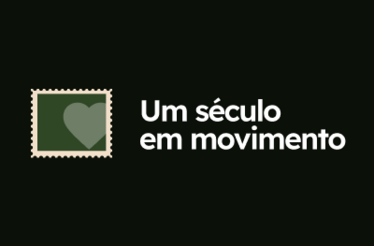Pedro Strecht: “Vejo famílias que teriam tudo para estar bem, mas onde tudo é aparentemente insuficiente”
Não precisamos de ser perfeitos, basta que sejamos Pais Suficientemente Bons. O novo livro do pedopsiquiatra Pedro Strecht desconstrói a ideia de sucesso, explica a importância do fracasso e alerta para a importância da construção de uma nova mentalidade mais focada naquilo que realmente importa.

A tendência não é recente, mas parece cada vez mais expressiva: estamos obcecados com o sucesso e com uma ideia de perfeição que sabemos ser impossível, mas que, ainda assim, tentamos alcançar. "Ao querer sempre mais, olhamos para uma linha do horizonte que, também ela, se afasta", explica Pedro Strecht, resumindo com esta imagem aquele que será um diagnóstico tristemente comum para muitos dos casos que chegam diariamente ao seu consultório, em Lisboa. Foi dessa sala, a mesma onde conversámos com o pedopsiquiatra, que saíram as histórias compiladas em Pais Suficientemente Bons – para filhos que não têm de ser perfeitos (Contraponto). O seu mais recente livro, explorado a partir do conceito "suficientemente bom", desenvolvido pelo pedopsiquiatra britânico Donald Winnicott, na década de 1950, reflete os dramas e angústias de muitas famílias portuguesas que, ao contrário do que se poderia pensar, não se circunscrevem a um determinado grupo social: "Poderia pensar-se isso e bem porque hoje a maior parte do meu trabalho acontece em consulta privada, mas sempre intervim em diferentes áreas sociais, nomeadamente nas mais desfavorecidas, em instituições, lares de infância e juventude, centros educativos do Ministério da Justiça, e há códigos de afirmação transversais, da mesma forma que a questão da qualidade de relação com os pais, sobretudo quando não corre bem, pode ter paralelismo em áreas sociais diversas", esclarece. Com quase trinta anos de experiência na área da psiquiatria da infância e da adolescência, o médico, que também é pai de três, debruça-se sobre as dinâmicas familiares, tantas vezes marcadas pelo excesso de tecnologia e pela ausência de comunicação.
Este conceito de "pais suficientemente bons" e o facto de surgir agora significa que hoje, porventura mais do que nunca, estamos obcecados com o sucesso?

É uma excelente pergunta. As ideias que vou tendo como temas para possíveis livros surgem conforme as conjunturas, ou movimentos pessoais e profissionais, mas estão sempre dependentes daquilo que vou sentido como importante do ponto de vista profissional. Nos últimos anos, tenho notado muito essa procura do sucesso. Gostar de ter sucesso é normal. As crianças, quando participam num jogo, gostam de ganhar, da mesma forma que os pais gostam que elas tenham sucesso escolar, mas o que está aqui em causa é a noção de um sucesso desprovido da faceta humana. Interessa que triunfem sem grande noção do impacto do que é o outro, do que é o grupo. Por vezes, e de forma inconsciente, faz-se inclusive um uso funcional do outro para atingir determinados objetivos, ou a sua exclusão, para que eu possa emergir e sobressair. Voltei a ouvir coisas que já não ouvia há muito tempo, do género, ‘e então quem é que teve a melhor nota?’. Há sempre uma comparação que, muitas vezes, acaba por ser inútil e que passa também uma sensação de competição permanente que, à medida que as crianças e os adolescentes vão crescendo, se transforma numa competição com eles próprios. Vejo famílias que teriam tudo para estar bem, mas onde tudo é aparentemente insuficiente.
Ao ler o seu livro fica a sensação de uma profunda desconexão entre pais e filhos. Como é que chegámos aqui?
O termo desconexão é muito adequado. A maioria dos pais interessa-se muito mais pela vida dos filhos e pelo seu bem-estar (também porque têm menos filhos), mas é um interesse que, por vezes, não passa para o campo da comunicação e da relação. Tudo o que passa por ouvir, compreender, estar próximo, aparece secundarizado. É esperado determinado comportamento e resposta dos filhos, nomeadamente em termos escolares. É por isso que, muitas vezes, oiço coisas tão paradoxais como ‘se é para continuar com estas notas, estamos a pensar tirar o nosso filho da escola particular, assim não vale a pena o investimento’. Nesta perspetiva, e mesmo que na maior parte dos casos não tenha um fundo negativo, acaba por ter esse efeito, porque passa a ideia aos miúdos de que não correspondem às expectativas dos pais. Depois, há outra questão que aumentou muito no tempo pós-covid e que tem a ver com o facto de haver uma cada vez menor diferenciação entre o tempo pessoal e o tempo profissional. A maior parte de nós está sempre a receber e-mails e mensagens. Na perspetiva dos mais novos, há muitas descrições em que os pais até estão em casa, mas permanecem conectados a questões da vida profissional e, por isso, pouco disponíveis para a relação com os filhos. É bom que tenhamos uma consciência mais ativa, para que possamos decidir que certos períodos são para estar com a família, usufruindo da relação de uma forma mais positiva.

Pensando especificamente no caso dos pais, dos homens: no passado, eles também estavam ausentes, de uma forma física até. Isso mudou.
Há muitas mudanças nesse aspeto. Há 20 anos, em consulta privada, o normal seria vir apenas a mãe. Hoje, vêm os dois. Eles estão mais ativos e querem estar mais presentes. Com o aumento do número de divórcios, também há um número crescente de homens que requer a possibilidade de estar com os filhos no dia a dia, com partilhas de tempo idênticas. A maior parte das mães também trabalham e, em algumas áreas profissionais, continua a parecer-me que as mulheres mães ainda têm uma maior pressão na gestão do tempo e do desempenho.
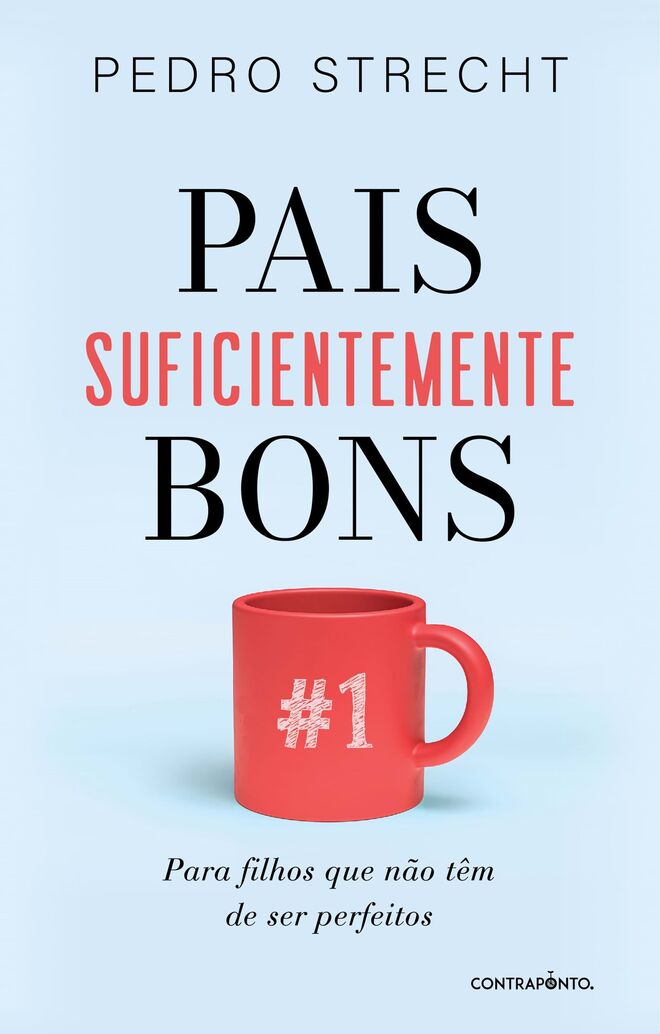

Será a culpa uma variante importante neste processo?
A noção de pais suficientemente bons, criada por Donald Winnicot em finais dos anos 1950, andava um pouco à volta dessa ideia, no sentido em que defende que não somos perfeitos. Os pais suficientemente bons têm as suas falhas, podem não estar sempre disponíveis, e isso também ajuda a criança a gerir pequenas frustrações, a conter a impulsividade... e isso é benéfico para o crescimento. Por outro lado, hoje há a ideia de que os pais têm de estar sempre presentes ou disponíveis, ou que não podem ter pequenas falhas, sendo exemplares. A ideia do good enough parents reforça essa ideia de que todos temos coisas melhores e piores, e podemos ter contextos externos adversos que podem limitar a nossa disponibilidade. Ter sobre isso uma posição de culpabilidade só prejudica.
Os pais devem partilhar essas adversidades ou há limites que convém respeitar?

Pode haver limites na forma como comunicamos, que dependem das situações e da idade das crianças. Mas é importante deixar claro que, a partir de determinada idade, e tendo em conta a própria durabilidade das situações, é quase inevitável que os miúdos percebam. Então aí acho que só é útil falar e comunicar. A pessoa deve ser o mais honesta possível. Explicar que está a atravessar uma fase mais difícil, mas que ela vai acabar a determinada altura. Isso tranquiliza os miúdos porque lhes dá uma leitura emocional do que está a acontecer. Na criança, mais do que no adolescente, quando as coisas não são ditas, ela fica totalmente entregue ao que pode imaginar, e aquilo que imagina pode ser bem pior do que a realidade em si. Por isso, sou apologista de que algumas das circunstâncias possam ser conversadas. Há pouco tempo, uma mãe confessava que tinha chorado em frente aos filhos de 11 e 13 anos, o que a tinha deixado muito inquieta. Aconteceu, aconteceu: é melhor tentar explicar do que fingir que não se passa nada. Isso sim deixa os miúdos inquietos! O contrário também se aplica, muitas vezes questiono os adolescentes: se estavas a sentir isso, porque é que não disseste à mãe ou ao pai? Muitos dizem que nunca tinham pensado nisso ou que não queriam preocupar os pais, quando a preocupação é querer ajudar e não saber como. Um exemplo comum em que há uma grande dificuldade de comunicação é em situações de bullying. As crianças têm dificuldade em falar com os pais porque acham que podem reagir mal, ou podem ir à escola, e acaba por haver um encapsulamento da situação que só vai piorando a situação em si.
Como é a dinâmica da consulta?
Numa primeira consulta, começo sempre por conhecer a criança ou adolescente sem saber nada dele ou dela. É uma espécie de observação cega. Faço uma pequena apresentação, explico qual é o meu trabalho, tento perceber se há um motivo de preocupação, se foram os pais que sugeriram a consulta ou se é uma iniciativa deles... depois oiço, começando pelas coisas mais circunstanciais do dia a dia. A família, a escola... com a prática vai dando para perceber coisas, pelo que expressam, mas também pela linguagem corporal. Se não se tornaram muito explícitas as razões pelas quais estão ali, pergunto. E depois chamo os pais, explicando, sobretudo aos mais pequenos, porque é que não os oiço em simultâneo. No final, gosto de falar com os pais em privado, porque pode haver questões que queiram abordar, não havendo necessidade de expor os miúdos.

No livro aborda os impactos da tecnologia: o estar permanentemente conectado, os estímulos constantes, as redes sociais, um mundo de imagem e aparência, a sensação de "FOMO". Haverá algo de bom?
Há. Pode parecer no meu discurso que sou muito anti-tecnológico. Isso tem a ver com o facto de eu ser muito mau em tecnologia, regra geral dou-me mal com as máquinas, mas é inequívoco que os miúdos nasceram e cresceram com isso. Se pensarmos no tempo Covid, o que teria sido das vivências das famílias sem as tecnologias? Em alguns casos foi mesmo life saving e não me refiro apenas às aulas, mas também à possibilidade de se manterem contactos e amizades. É importante ter essa perceção e dar espaço a partir de determinada idade, permitir que os miúdos tenham telemóvel, estejam online com colegas, etc. Aquilo que me parece importante ter em conta é a quantidade de tempo que os miúdos possam passar conectados, muitas vezes sem terem outra atividade estimulante. Se um miúdo pratica desporto, se tem os seus amigos, se tem tempo para visitar os avós... relativizo o uso do telemóvel. Mas há muitos que chegam a casa cedo, não têm atividades extracurriculares, as distâncias são grandes e, por exemplo durante os períodos de férias, estão permanentemente online. Além da parte muito aditiva relacionada com os videojogos, há outro fator de preocupação: o acesso de crianças em idade pré-adolescente a conteúdos agressivos e altamente sexualizados, ou pornográficos mesmo, sem nenhuma capacidade de integração ou maturidade para lidar com isso. Os jogos em excesso são altamente estimulantes, provocando uma dificuldade no manejo do impulso e da frustração. Há imensos pais que se queixam que, quando os filhos estão a jogar, gritam, dão murros na mesa, não conseguem parar para ir jantar ou tomar banho...
O universo dos jogos é mais restrito aos rapazes?

Já vai sendo bastante comum também para as raparigas, mas sobretudo na adolescência elas passam mais tempo em redes sociais como o TikTok e o Instagram onde – e eu considero isto muito importante, aplicável também aos pais - se passa uma cultura de imagem muito distorcida. Onde aparece sempre uma versão idealizada da vida. Por outro lado, também há uma necessidade de estar sempre ligado, criando uma expetativa de resposta imediata à qual eu e os meus colegas não temos capacidade de responder. Ainda há pouco tempo, num domingo, fui ao cinema e, quando saí, tinha umas cinco mensagens de pais muito preocupados com a filha adolescente. Tinha o telefone em modo silêncio e demorei algum tempo, mas quando finalmente respondi, disseram que estava tudo resolvido. Há uma tensão enorme, uma procura pela resposta imediata...
Haverá uma certa infantilização dos pais?
É mesmo isso! Essa expressão é muito correta. Acho que os pais devem entender essas palavras não no sentido negativo, mas no sentido reconstrutivo, pensando ‘então, mas será que não tenho a capacidade de gerir isto?’, ‘não consigo ter uma sensatez do que está certo e errado?’, ‘preciso de ter sempre uma bengala?’. Em imensas circunstâncias dou comigo a ter intervenções junto aos pais – e digo-o sem ofensa – de coisas básicas, porque sinto que são precisas.

Porque é que isso acontece?
Por um lado, porque as pessoas não recordam a sua própria experiência de infância, como é que foram resolvendo coisas. Por outro, como há um manancial imenso de informação, sentem-se confusas. Há pais que ficam bloqueados pela ansiedade de que qualquer resposta, seja ela qual for, possa ser má ou um "trauma". Banalizou-se a ideia de trauma... caramba, mal de nós se não tivéssemos pequenas contrariedades! E é também por isso que imensos miúdos, quando têm grandes embates, reagem muito mal, muito agressivamente, ou desistindo.
No livro aborda essa dimensão de violência. Estamos a falar de casos extremos?

Hoje em dia são mais frequentes. As birras ou as respostas mais impulsivas dos pequeninos, porque são contrariados ou porque estão cansados, acabam por surgir com pouca contenção. Tenho aqui pais – e em maior número do que se possa pensar – que me dizem coisas como ‘se lhe digo que é hora do banho, ele bate-me’. Neste caso, estávamos a falar de uma criança de seis anos. Não se pode permitir porque, caso contrário, aos 15 ou aos 16, essa criança bate mesmo. Há muitos pais que admitem que os filhos têm muitas dificuldades na gestão das contrariedades e, nesses casos, as opções tendem a ser duas: ou continuam a não contrariar e os miúdos "mandam" ou, quando contrariam, a resposta física e verbal pode ser brutal ao ponto de, em casos de pais e mães que estão sozinhos, admitirem que têm medo de estar em casa sozinhos com os filhos, porque receiam o que possa acontecer durante a noite. Um medo físico, mesmo.
Quando, como nesses casos, já todos os limites foram ultrapassados, como é que se inicia um caminho de volta?
É um trabalho longo de recuperação da relação. Os pais estão fragilizados e têm, pouco a pouco, de começar a ganhar segurança e eventualmente sentirem-se reforçados, por exemplo, por outros membros da família, pela escola, etc. Por outro lado, os miúdos têm de ser ajudados a perceber que, em determinadas alturas, este comportamento pode ser destrutivo, não só para a relação que têm com os pais, mas também para eles próprios. Muitos conseguem fazer esse movimento de perceberem que não conseguem lidar com isso da melhor forma, admitindo por exemplo que se passam com facilidade. Há muitos miúdos que funcionam pior em casa do que em outros registos, como o consultório ou a escola, porque há uma autoridade diferente ou um certo distanciamento emocional.

Como vê a decisão das escolas do Reino Unido proibirem a utilização de telemóveis?
Penso que os miúdos não deviam usar telemóveis no espaço do recreio das escolas, não tenho a menor dúvida sobre isso. O que não quer dizer que não os possam levar, porque estes podem ser úteis nos trajetos para a escola (nos casos de crianças que já são autónomas). A ideia de ter um telemóvel enquanto mecanismo de comunicação não me causa nenhuma perturbação, mas entrar numa escola e ver que a maioria dos alunos do 5º e 6º anos ou do 7º e 8º estão a jogar no telemóvel... é péssimo. É um fator de excitação e tensão. Acabar o jogo e ir para a sala de aula com a cabeça limpa dessa experiência é muito difícil, ao mesmo tempo que impede que sejam treinadas outras competências sociais, que vêm da convivência saudável. Essa é uma das áreas importantes da escola, que serve para aprender, mas também para estar, para ganhar experiência de vida.
Como é que se aprende a lidar com o fracasso e, ao mesmo tempo, como é que desconstrói a narrativa de que sucesso é sinónimo de dinheiro?
Noto que muitos pais tentam influenciar a área de estudos e os cursos universitários tendo em conta a perspetiva económica. ‘Não vás para artes, isso é desemprego certo’ ou ‘Humanidades é para burros’. Ou seja, há distorções enormes, concentrando as respostas nas ciências e nas económicas porque são as que representam uma maior gratificação económica. Quase todos aprendemos sob uma lógica de repetição e erro. É normal que assim seja e é uma das melhores formas de consolidar a aprendizagem e o conhecimento. O fracasso está muito ligado à ideia de inutilidade, de ausência de esforço e a verdade é que não são nada sinónimos. Quando falo com adolescentes costumo comparar o ensino secundário a um campeonato: calma, pode ter havido um teste que não correu bem, mas vêm outros. Haverá assim tantas equipas a ganhar campeonatos sem uma única derrota?
Ou seja, a ideia de que "nada tem de ser tido como irreversível", que também aplica na relação entre pais e filhos.
Exatamente. É isso mesmo.