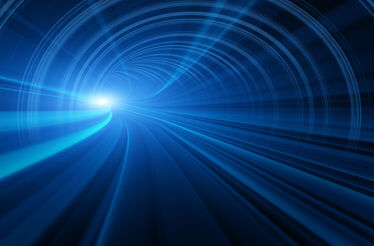Histórias de Amor Moderno: "Eu quero fazer o que sempre fiz e o que sempre adorei fazer, mesmo que agora esteja sozinha. Viúva."
“As pessoas tendem a associar a palavra ‘viúva’ a uma pessoa acabada, ao fim da vida e à espera do seu próprio dia. Mas as pessoas enganam-se muito.” Todos os sábados, a Máxima publica um conto sobre o amor no século XXI, a partir de um caso real.

Permanecer sentadas no café, deixar passar o tempo ali à mesa da pastelaria, de roda de um carioca de limão e de um brioche que duram manhãs inteiras ou tardes infindáveis: é esta a ideia que as minhas amigas têm de convívio. Digo isto com um sorriso. É normal, somos velhas. E as velhas fazem isso, sentam os seus rabos antigos nas cadeiras de sempre, vão-nas polindo dia após dia até que a vida, em contagem decrescente, lhes diga "já chega, agora não sais de casa". É assim que descansamos as articulações nos últimos anos do que resta do esplendor da vida. Ainda não somos cacos, não definhamos. Nada disso. Ainda conservamos o amor próprio e uma certa vaidade – porque raio nos maquilharíamos, se não fosse assim? Por que razão iríamos ao cabeleireiro de quinze em quinze dias? Só já não temos o que fazer, e a maioria de nós também não tem companhia em casa.
Aos poucos, fomos ficando viúvas, ao longo dos anos, eu, a Estela, a Celeste, a Idalina e a Luísa. E fomos criando o nosso pequeno círculo de companhia. Éramos agentes anti-solidão umas das outras. Mantínhamo-nos atentas umas às outras e ativas em conjunto. Só que, com o passar dos meses (entretanto, são anos), essa atividade foi-se circunscrevendo até ficar limitada àquilo que me parece mais profundamente desinteressante: estar sentada no café a olhar pela vidraça e a ter conversas fúteis e desinteressantes. Não tenho nada contra a futilidade das coisas, muito menos das conversas. O meu problema é com aquelas conversas que não se renovam, que não progridem, que estagnam em torno de um mesmo ponto desinteressante. Ora é a banalidade do quotidiano – a chuva, o vento, o calor, o preço da gasolina, as novas lojas do mercado municipal –, ora é o comentário escarninho aos vizinhos. Tudo isto era para mim muito pouco.

Uma coisa que as minhas amigas não tinham o hábito de fazer era almoçar fora. Somos todas moças de uma geração diferente, em que ir ao restaurante requeria ocasião especial. Não digo que só o fizéssemos em dias de festa, mas era, sem dúvida, um ato reservado. Acredito que essa reserva se foi agravando à medida que os maridos foram morrendo. Só que eu sentia saudades de o fazer, de ir almoçar fora. Tenho muitas saudades do tempo em que eu e o meu Manuel pegávamos em nós e íamos, sem grande destino nem exigência. Ir almoçar ou jantar fora era, em si, programa suficiente para dispensar qualquer outro propósito.
Não sei se alguém sabe, ao certo, definir "saudade", mas eu tenho aqui uma sugestão: experimentem fazer coisas destas, jantar e almoçar fora em dias ao acaso, sem aviso, sem programa, durante mais de 34 anos; depois, deixem de o fazer porque a pessoa que vos acompanhou ao longo de todos esses anos morreu. E esperem. Aguardem durante semanas, depois meses. Eventualmente, anos. Por fim, lembrem-se desses momentos. Espremam essa lembrança para dentro do peito enquanto respiram fundo e se olham ao espelho, a envelhecer. E então sintam. A saudade pode ser isso.
Pensei para mim "Maria de Lurdes, a tua vida não acaba aqui". Eu quero fazer o que sempre fiz e o que sempre adorei fazer, mesmo que agora esteja sozinha. Viúva. As pessoas tendem a associar a palavra "viúva" a uma pessoa acabada, ao fim da vida e à espera do seu próprio dia. Mas as pessoas enganam-se muito. Eu só queria duas coisas – queria três, na verdade, porém trazer o meu Manuel de volta era impossível, pelo que não conta –, deixar de passar manhãs e tardes sentadas na pastelaria e no café, e voltar a frequentar restaurantes simples e honestos onde servissem bons pastéis de bacalhau com arroz de tomate. Se eu sou louca por pastéis de bacalhau!

Descobri, quatro ou cinco quarteirões abaixo do meu, um dos poucos sítios que restam com a dignidade tradicional bastante para que lhe possamos chamar "tasco". Um tasco, ensinou-me o Manuel, há muitos, muitos anos – e, desde então e até à sua morte, tivemos a felicidade e a fortuna de conhecer, experimentar e revisitar muitos deles –, tem de ter certas características. As travessas devem ser de alumínio, a comida tem de ser tradicional portuguesa, as batatas fritas não podem ser congeladas (muito menos de pacote), as sobremesas devem ser caseiras, a conta deve ser feita à mão no toalhete de papel e o vinho da casa não pode ser bom – se for, não é um tasco, cuidado.
Comecei a frequentar o restaurante – o tasco. Primeiro, pontualmente. Depois de várias experiências muitíssimo agradáveis, comecei a ser cliente habitual. Regular, não diária. Já não estou em idade de assumir compromissos assim tão sérios: vou quase sempre, mas não garanto presença diária.
Era um sítio bem frequentado. Numa zona rica em escritórios de gente séria – advogados, consultores – e de sedes de empresas abastadas – bancos, seguradoras –, era escolha natural e óbvia de muitos desses senhores engravatados, vestidos com fatos que lhes assentavam de tal modo que só podem ter sido feitos por medida por sábios alfaiates ou corrigidos por hábeis modistas. Quando me comecei a sentar na minha mesinha para dois, mas solitária, num canto da sala, percebi que estava rodeada de senhores bem-parecidos – rapazes da minha idade, certamente bons partidos.

A repetição das minhas idas àquele restaurante pode ter despertado em alguns deles a impressão errada de que eu andava à procura de alguém – não à procura de alguém específico, mas à procura de um alguém qualquer, alguém novo, o que me calhasse. Não é fácil envelhecer. Uma mulher que fica sozinha e ainda está numa idade não suficientemente velha para ser absolutamente idosa, está condenada a uma série de julgamentos não muito justos. Se nos arranjamos, se nos penteamos, se nos maquilhamos – enfim, tudo vai para a balança. Nesse aspeto, as manhãs e tardes no café com as minhas viúvas era mais confortável. Quando nos aventuramos no mundo, sobretudo no mundo dos homens – estes tascos ainda são o mundo dos homens –, somos de novo a miúda de 16 anos que veste uma saia curta e "deve estar a querer alguma coisa". Só que eu tenho 65 anos e já não visto saias curtas há muito. Só queria alguém que me fizesse companhia e me levasse a jantar fora.
No meio de tudo isto, há uma figura que verdadeiramente me encanta. E não vou dizer que os meus olhos não brilham quando me aborda e que o meu coração não acelera um pouco quando me diz uma piada simples – as piadas simples e genuínas podem ser pequenos tesouros com a capacidade de iluminar os olhos da mulher mais triste. Chama-se Jacinto, é o dono do restaurante e também quem serve toda a sala. Baixo, robusto, arredondado, tem umas maneiras que são, em simultâneo, rudes e sensíveis. Sabe brincar com as pessoas sem ser inconveniente. E sabe pô-las no lugar sem ser prepotente, fazê-las sorrir sem se armar em engraçado – e entendê-las sem fazer perguntas.
Se o senhor Jacinto não fosse, há já tantos anos, um homem casado – e bem casado –, a conversa não ficaria assim. Mas a vida é como é. Restam-nos as perguntas "então, hoje não quer pastéis de bacalhau?" e a diariamente surpreendente revelação de que "água? Água não temos" para que eu sinta um pequeno aconchego. Talvez seja uma minúscula amostra de felicidade. Chega-me bem. Posso alimentar-me disso e da saudade, todos os dias. * Se conhecer uma história real envie-a para m.oliviasebastiao@gmail.com. As suas ideias podem dar origem à história do próximo sábado.
* Se conhecer uma história real envie-a para m.oliviasebastiao@gmail.com. As suas ideias podem dar origem à história do próximo sábado.