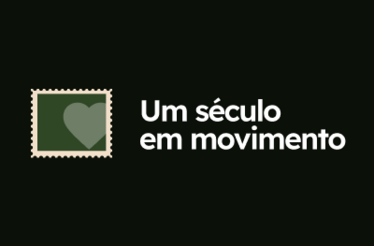"Há empresas que alimentam a noção de que a nossa vida é trabalho"
Entrevistámos o professor e investigador espanhol que fala sem medos sobre os efeitos negativos das teorias da positividade em contexto de trabalho, do overworking e sobre quão se “deixa” que os empregos definam a nossa identidade, nos dias de hoje.

É a partir de Madrid que conversamos com Oscar Pérez-Zapata, professor de Gestão nas universidades Carlos III e Pontifícia Comillas, em Madrid, e especialista em Sociologia das Organizações. Mas o seu percurso não começou por aí: formou-se em Engenharia das Telecomunicações e mais tarde em Negócios, trabalhou oito anos numa multinacional norte-americana em Silicon Valley e, porque "sentiu na pele os efeitos da sobrecarga laboral" decidiu mudar de área e especializar-se nas consequências e na pressão que a esfera profissional exerce nos indivíduos, especialmente nos jovens. É precisamente esse o pretexto da nossa conversa, depois de nos depararmos com uma frase sua algures na internet em que dizia que também as teorias da positividade e do mindfulness podiam ter "efeitos negativos" no contexto de trabalho.
Ao longo dos anos, Oscar Pérez-Zapata tem-se interessado por estudar os perigos da intensificação laboral advindos da classificação errónea (e muitas vezes inconsciente) daquilo que é, ou não, a autonomia profissional. Mas também pelo impacto do overworking na saúde mental das pessoas, como demonstra no seu último estudo (em conjunto com outros pares) - "Trabalho excessivo, trabalho sem limites e o paradoxo da autonomia" - onde compara as realidades laborais do Japão com as de Espanha, sobretudo nos pontos em que coincidem. "No domínio do trabalho, organizações e empregos estão a tornar-se cada vez mais digitais e flexíveis e tanto japoneses como trabalhadores espanhóis parecem estar a lidar com os mesmos dois grandes perigos (globais): a crescente precariedade e sobrecarga de trabalho/intensificação do trabalho" escreve. Apesar de conceitos como burnout, overworking ou workaholic não serem novos, numa era em que a saúde mental é um tema global, é urgente trazê-los à discussão.

Comecemos pelo tema da sua mais recente tese. O que é o paradoxo de autonomia?
A autonomia é uma coisa positiva, mas é preciso ver em que contextos falamos de autonomia, ou seja, em que medida a autonomia não se pode transformar no contrário, levando a pressões continuas [no trabalho]. A autonomia é sem dúvida algo positivo, até pode estar ligada à felicidade no trabalho, até porque é uma das três necessidades humanas. O problema é quando classificamos erradamente o que é autonomia ou não é. Temos de saber distingui-la dos mecanismos de controlo [que se estabelecem entre o empregador e o empregado]. É por isso que é tão importante existirem medidores de autonomia (…) embora estes sejam muito difíceis de analisar e de interpretar.
Há formas de as empresas envolverem esse tipo de autonomia em discursos ou mecanismos motivacionais?

Muitas vezes, somos tendenciosos em ver os chefes de um prisma "malvado". Mas é um facto que há empresas que o fazem. Usa-se muito a palavra "engagement" [envolvimento] e positividade, porque são conceitos ligados ao de se ter paixão por algo, e de se ter prazer em fazer algo. Conceitos que também se cruzam com o conceito de identidade…
Esse conceito de identidade ligado ao contexto laboral é novo?
A identidade interliga-se com os mecanismos de controlo. É uma questão problemática pois está ligada à socialização e, em parte, ao facto de gostarmos das nossas profissões. Por exemplo, se sentir que gosta de ser jornalista, como é o seu caso, vai sentir-se mais motivada. Ser jornalista é uma das coisas que a define. De uma perspectiva estereotipada, no mundo "de antes", a questão da identidade não estava tão interligada com a da autonomia, e todas as questões que destabilizam ou ameaçam a identidade são prejudiciais à saúde mental. Se, como jornalista, começar a questionar a qualidade do seu trabalho, isso vai mexer com a identidade e leva-a a perguntar-se: "Quem sou eu, agora?" Toca em aspectos muito profundos. Os nossos pais e avós, que sem dúvida que trabalharam muito e também a identidade era importante para eles, provavelmente não faziam depender tanto a sua identidade no geral do contexto laboral. Hoje em dia, tudo mudou porque também há mais investimento na formação, e estuda-se mais. Antes, o trabalho tinha um simbolismo diferente.

Parte da sua investigação diz respeito à relação direta entre o contexto de trabalho e a saúde mental. É urgente falar-se disto?
A esfera laboral é como uma pequena sociedade, e os padrões que se repetem nessa esfera podem muitas vezes ser similares aos que se passam noutras áreas sociais das nossas vidas. O que nos interessou – nos vários estudos que realizámos - foi saber de que forma, a nível mais macro e sistémico, esta responsabilização está ligada à autonomia que foi crescendo sem limites, e saber como podemos distinguir o que é, ou não é, a autonomia no trabalho, do overworking.
Numa entrevista ao El País, diz que "o pensamento positivo elimina qualquer possibilidade de crítica e transfere a culpa e a dúvida para o indivíduo e não para a estrutura onde ele atua". Como é que isso acontece, sem que o indivíduo se aperceba disso, em contexto laboral?

Quando alguém nos diz para vermos o lado positivo de algo, o princípio põem-se em ação. Mas quando consideramos que tudo é negativo, nem temos em conta que é possível mudar. É algo que está muito ligado à racionalidade. O problema é quando nos sentimos responsáveis por coisas que não controlamos. A estrutura social em que nos movemos vai sempre exigir mais de nós como indivíduos. A nível cultural e ideológico, circula a mensagem de que "podemos tudo, só precisamos de pensar que é possível". Uma coisa é, numa determinada situação, sermos conscientes das condições estruturais [do nosso emprego] e fazermos o melhor que podemos com o que temos, outra coisa, muito distinta, é quando sentimos que as soluções dos problemas estruturais tenham que ser iniciativas individuais que passam por ver positivamente e que nos impedem de ver realisticamente as situações. De tal forma que, às vezes, responsabiliza-se o indivíduo ao ponto de, caso este não consiga atingir um objetivo ou resolver um problema, a culpa recaia sempre sobre ele. Isto leva a um sentimento de culpa que pode provocar ansiedade e, em casos mais extremos, depressões.
A quem afeta mais essa culpa inconsciente?
Aos jovens, mas acontece em todas as faixas etárias. Muitos chegam a ter burnouts. O burnout acontece quando se atinge o pico máximo de todas estas questões de que estamos a falar. Acontece quando ouvimos incessantemente a tal frase motivadora que diz: "se queres o suficiente alguma coisa, se fores suficientemente positivo, se fizeres coisas que dependem só de ti, chegarás lá." O que se passa é que esse pensamento pode resultar durante um tempo, mas acaba quase sempre numa sobrecarga, esgotamento ou burnout. Termina-se com sofrimento. E atenção, o stress crónico tem efeitos físicos e mentais, que são muito sérios.
Quer dizer que o mindfulness pode, afinal, ser tóxico?
O mindfulness pode ser bom, regular, ou mau. Se se ativa o pensamento positivo nas pessoas sem resolver os problemas estruturais de uma empresa, por exemplo, isso pode ser prejudicial. O mindfulness pode ser usado em reuniões de empresa, para que as pessoas falem dos problemas existentes e se tornem mais conscientes. Mas se, por outro lado, for usado como mecanismo de controlo e para fazer com que as pessoas "aguentem" mais, para fazer com que o stress que sentem possa ser usado para se concentrarem melhor, então isso é negativo. É como "meter mais lenha na fogueira."
Poderá também estar ligado ao chamado síndrome de impostor?
Ligo muito o Síndrome de Impostor ao conceito de "overachievement", que se relaciona com a insegurança, e com o facto de se achar que se não está à altura, e que é preciso fazer sempre mais, mais e mais. Tudo isto se liga à saúde mental. Se deixamos com que a nossa identidade dependa muito do trabalho, sobretudo se este for precário e intenso, a identidade "sofre" muito. Tudo isto está interligado, são questões complexas, e é difícil "metermos-lhes mão" porque em parte não as vemos, são o dia a dia que vivemos, são o ar que respiramos.
Em Portugal, temos a cultura de sair tarde. É uma das razões que levam à chamada sociedade overworking?
Na investigação que levámos a cabo, avaliamos as pessoas que trabalham um grande número de horas, e que saem tarde, até porque o nosso tema era precisamente a intensificação do trabalho. Em Espanha, também isto sucede. Por exemplo, ser-se mais rápido, fazer-se mais com menos, com recursos reduzidos são dinâmicas que, como vemos na investigação, mais crescem nos últimos 20 anos, sobretudo em Portugal e Espanha. Porque nos outros países europeus já tinham crescido. No nosso caso de estudo usámos o Japão, que é um exemplo muito particular pela sua cultura familiar e profissional, e uma das maiores descobertas é a de que esta intensificação está muito generalizada e que quase se pode comparar ao "sacrifício do samurai": é preciso estar ao serviço do colectivo, não interessa o quanto se sofra.
Há também as empresas que tornam os locais de trabalho deveras apetecíveis, assemelhando-se a recreios, como a Google. Também essa realidade tem um outro lado mais subversivo?
Esta interiorização da autonomia, que se espelha em mecanismos feitos pelas empresas como o ‘engagement’ ou a cultura da iniciativa própria, passa pouco por impor limites. Há empresas que alimentam a noção de que a nossa vida é o trabalho. Portanto, a nossa identidade está maioritariamente lá posta, de forma inofensiva, porque às tantas parece que somos nós a fazer essa escolha de forma livre. E nem sempre é assim.
Como professor de Gestão, quais são os seus conselhos para estarmos mais conscientes num âmbito profissional?
Interagindo com outras pessoas, vendo as coisas de forma mais colectiva. A dinâmica da conversação leva a uma consciência maior, todos estaremos mais atentos aos limites. Como já referi, estas são dinâmicas complexas, mas uma das chaves para entender melhor tudo isto é começar por explorar a questão da identidade. Ter muita atenção a palavras como resiliente, que está ligada ao pensamento positivo, sim, mas que pode ser perigosa dentro das dinâmicas de trabalho. Ser consciente, saber que é urgente haver equilíbrio e impor limites, sobretudo em relação a algo que hoje em dia é tão precário, e que depende de muitas variáveis. Todos precisamos de uma coisa chamada perspectiva. Como? Lendo, falando com outras pessoas, procurando informação. A nível mais macro, esperamos que as organizações e a sociedade nos ajudem nesta consciência e perspectiva, mas nem sempre isso acontece. É preciso que as organizações acordem para isto, porque está a causar danos, sofrimento a pessoas muito válidas, porque estas questões afetam sobretudo pessoas bem-sucedidas e altamente profissionais - simplificando muito.