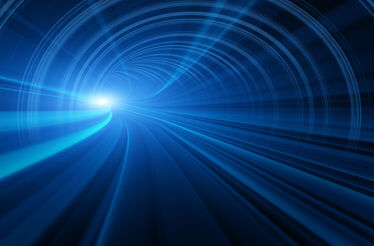José Pedro Cortes fotografa a bela desordem do mundo
Observa pessoas e lugares para compreendê-los melhor, nos seus detalhes ínfimos e paisagens diversas, nos seus limites. O artista fotografa a bela desordem do mundo e a ínfima respiração do corpo, para pensar mais longe e sentir mais fundo, entre o que se revela e o que se adivinha.

Os fotógrafos ensinam-nos a reparar, e o olhar perscrutador, profundo, e até voyeur, de José Pedro Cortes não pára de nos convocar para os universos misteriosos da intimidade humana, e dos espaços que habitamos, ou abandonamos, na sua força ou fragilidade. Como que à procura de um sentido, ou apenas de uma contemplação instintiva, leva-nos muitas vezes para o território da ambiguidade ou daquilo que não se diz. Nascido no Porto, em 1976, estudou fotografia e cinema na sua cidade e fez um Master of Arts in Photography no Kent Institute of Art & Design, no Reino Unido, viveu três anos em Londres e regressa, em 2006, para fazer o Programa Gulbenkian de Criatividade e Criação Artística.
Começou a dar nas vistas nos livros que cedo começou a publicar, como Silence, de 2006, a primeira publicação da sua Pierre von Kleist editions, com o apoio do Centro Português de Fotografia. Cinco anos depois saiu Things Here and Things Still to Come, depois Costa, One's Own Arena e Necessary Realism, e agora Patrícia, resultado da sua mais recente exposição, na Galeria Francisco Fino, em Marvila, que observa a atleta de triplo salto Patrícia Mamona, nos seus intensos e minuciosos treinos. O corpo é tantas vezes protagonista nas suas imagens, tão orgânico e informal, que quase o sentimos respirar.


Embora fotografe bastante no seu lebensraum, as pessoas e os lugares que o rodeiam, aventura-se sempre que pode e foi um dos dois artistas convidados a realizar um trabalho em Toyama para o European Eyes on Japan, em 2012, e um dos três portugueses convidados a pensar a "Identidade Europeia" no European Photo Exhibition Award, comissariado pelo olho clínico de Sérgio Mah. Está representado em várias coleções públicas e privadas, e já passou, a solo ou em coletivo, em instituições de referência como Serralves, o Centro Português de Fotografia ou o Museu de Arte Contemporânea do Chiado, pela Fundação EDP/Maat ou pelo BES Art e Finança, mas também pelo Deichtorhallen Hamburg ou pelo Centre Gulbenkian de Paris.
Começamos a conversar enquanto observamos os quatro vídeos de Patrícia, quando ainda estavam expostos em Marvila. Acaba de sair o livro de artista com as fotografias. Lembramo-nos que, há mais de uma década, um encontro inesperado do artista, em Telavive, resultara no projeto Things Here... onde acompanhou quatro raparigas nascidas nos Estados Unidos que aos 18 anos foram para Israel cumprir dois anos de serviço militar. O poder e a resiliência a seduzir-nos a todos, no feminino.

Porquê acompanhar os treinos de Patrícia Mamona?
Em 2018, na exposição que fez uma retrospetiva do meu trabalho, no Museu de Arte Contemporânea do Chiado, tinha uma peça em vídeo que se chamava Seven Minutes, feita a partir do iPhone, em que está uma mulher em casa, a fazer um conjunto de exercícios ditados por uma aplicação. Dura cerca de sete minutos e ouves esta voz, de uma certa forma universal, a dizer: "stand up", "run", "now, stop!" E eu, na altura, pensei que me interessava fazer uma coisa com alguém que treinasse o corpo de uma forma diária, ou regularmente, mas que o trabalho do corpo não fosse a finalidade, ao contrário da ginástica ou da estética. E lembrei-me da Patrícia Mamona porque ela mistura estas ideias que me interessam, a força e a beleza, quase mito da sensualidade e do realismo, esse lado cru. Contactei-a e, de uma maneira muito vaga, disse-lhe que queria frequentar os treinos, fotografar ou filmar, e que nenhum de nós sabia ao que se ia, que nem eu sabia. Foi um processo longo, de várias visitas e começou em 2018, ela treina no Centro de Alto Rendimento do Jamor, normalmente treinos bidiários, três, quatro horas de manhã e três, quatro horas de tarde, são treinos com uma intensidade muito grande, mas com uma duração muito curta, porque ela não pode ganhar massa muscular, tem de provocar explosão e reduzir a gordura... E comecei a seguir uma grande parte das coisas que me interessaram no início, e que eram coisas mínimas. A força mas, por outro lado, os exercícios de equilíbrio, de trabalhar o corpo de uma forma quase minimal, os músculos mínimos. O projeto apanhou a pandemia, e depois retomei, porque a ideia também seria, quando conseguisse ganhar embalo, continuar até aos Jogos Olímpicos, e depois tudo se tornou mais forte porque ela ganhou a medalha de prata. Uma outra ideia, muito abstrata, era a de ter uma atleta sozinha, a treinar para uma tarde dali a dois anos, com o grande foco nos Jogos Olímpicos. Ao contrário de outros desportos, mesmo os individuais, treina-se com adversário. Tal como ela e o treinador diziam: é sempre um treino contra ela própria, e sempre a repetir, a repetir, a repetir.


Pode ser uma metáfora das nossas próprias vidas: cai, levanta, sacode, continua e repete.
E há também um lado muito coreográfico nesta espécie de solidão, há sempre uma procura de equilíbrio do corpo, há mil coisas... saía de lá sempre fascinado, só por estar a olhar, e sempre com vontade de começar a correr e a trabalhar o próprio corpo. Vês os outros atletas e vês a distância da maior parte das pessoas que, como nós, não praticam desporto de alta competição e não fazem a mínima ideia. Quando vês a explosão do corpo assim, é avassalador.
E a escolha da Patrícia, foi muito ou pouco pensada? Ela é bonita e muito aberta ao outro.

Foi a única que contactei, queria trabalhar com alguém que já fosse uma figura pública, que o processo fosse o contrário: partisses da segurança da imagem, reconhecida pelo público, para depois te desfazeres dessa imagem. É uma mulher, uma atleta, a treinar. Depois, o facto de ela ser uma mulher bonita, que aparenta toda esta confiança e força e a relação com o mundo, a força que se inscreve num território mais tendencialmente masculino: como é ser-se feminina na nossa sociedade? E, no fim de contas, jogas tudo no mesmo caldeirão, ela é força e também sensualidade. A forma como é hiperfeminina ultrapassa estas supostas divisões, a sua força a puxar aqueles pesos não é masculina, é feminina! A força é feminina da mesma maneira que a beleza não é só feminina. Eu queria que fosse uma mulher, para mim não é igual trabalhar com homens e com mulheres, o que não significa que as pessoas sejam iguais. Mas por eu ser homem, não é a mesma coisa.
Como assim?
O movimento que faço não é igual. Sinto-me mais protegido, não sei a palavra, mas talvez conheça mais os códigos dos homens e, portanto, sinto-me menos desafiado. E fotografar uma mulher é realmente mais desafiante porque é mais distante, para mim. É curioso que muitos elementos de que gosto quando fotografo, e muitas vezes não sei explicar porquê, na verdade sejam coisas bem mais femininas, sei lá, esta coisa das unhas, por exemplo, depois começo a ver e há muitas fotografias [minhas] com pés e unhas pintados.


Mas nunca objetificas as mulheres, o que seria fácil, só as observas sem intervir.
O Brian Eno, que é um músico, diz: se quando escreves uma música não usares a palavra eu, "I", ou tu, "you", tens muitas probabilidades de fazer uma coisa interessante, e há uns 3% da história da música em que a letra não usa I love you. Então há esse lado: como é que te consegues inscrever no privado sem te inscreveres no pessoal, e isso é interessante. Uma boa parte das pessoas que fotografo são próximas de mim, e não tem de ser necessariamente a minha mulher. Acho que a imagem tem mais possibilidade de passar esse limite do tempo se não for inscrita no teu círculo de necessidade pessoal, não é aquela coisa das imagens que vêm do umbigo e das vísceras, acho que o tempo come-as um bocadinho. Os trabalhos mais pessoais, supostamente como a Nan Goldin, [acontece que] quando a ouves falar, ela não puxa para o lado pessoal, ela fala sobre ideias de comunidade, "são coisas que estão a acontecer à minha frente, não me interessa que seja o espelho da minha vida". Ninguém sabe o que é encenado ou não. E as imagens, assim, tornam-se um pouco mais universais.
No teu trabalho, o tempo e o espaço não são identificáveis, não fossem algumas peças de roupa...
Sim, às vezes sim, é verdade. A fotografia tem a capacidade de transformar uma imagem num documento do tempo. Daqui a 100 anos vês isto e vês como as pessoas se vestiam quando faziam desporto, as roupas, os ténis, a maquilhagem. É sinal dos tempos, zeitgeist, é engraçado, estares a trabalhar no limiar do teu tempo.
Também fotografas espaços, e nenhures, mas sempre tiveste uma forma particular de olhar o corpo humano, quando ele entra numa imagem tua é de uma maneira forte e profunda.
Nunca foi fácil, mas não consigo pensar no meu trabalho sem pessoas, e também não consigo pensar no trabalho só com pessoas, portanto este organiza-se numa espécie de constelação onde aparecem ou não aparecem os corpos, as paisagens. E depois a relação com o corpo... quer dizer, não sei explicar como é que as imagens aparecem, mas sei que me interessam sempre que eu consiga fotografar pessoas de uma forma em que elas estão escritas num certo tempo. São imagens que vêm através de alguns elementos que "lá" aparecem, que vêm com a carga de uma casa, de um sofá, de uma peça de roupa que lá existe. Posso dizer que fotografei imensas pessoas quase no limiar da nudez. Há num livro uma imagem ou outra de uma pessoa sem roupa, mas a maior parte das mulheres que fotografei têm sempre uma peça de roupa interior ou duas e, lá está, ela [a mulher] não está quase nua, ela está quase vestida. Depois, ao nível de construção das imagens, sempre me interessou a escultura clássica e a forma como o corpo aparece, essa carga da pose. Até cheguei a fazer uma série, quando fui nomeado para o BESPhoto [em 2014], que era um conjunto de 28 imagens de uma modelo, ela não está nua, mas naquelas poses suspensas de desenho. Aquilo que se vê, muitas vezes, nas artes visuais e no cinema, é um desejo muito grande de mostrar o corpo, e quando sentes isso a fotografia fica logo desinteressante, há um esforço. Não quer dizer que as minhas fotografias não o possam ter, mas se sentir esse esforço, não mostro essa fotografia. Com este trabalho da Patrícia Mamona, há coisas que ela faz ali que se eu dissesse: "senta-te, deita-te, começa a fazer isto", nunca ficaria igual. Sei lá, quando alguém se deita no sofá para ver televisão, a forma como as pernas ficam, tu não consegues replicar aquilo. O que tens de fazer é andar à volta e fotografar.
O teu trabalho convoca temas muito fortes agora, a identidade, a intimidade, naqueles instantes que apanhas.
Sempre tive uma coisa desde pequeno, acho que toda a gente tem, ou uma boa parte: eu às vezes adoraria ir à casa de algumas pessoas, ver o que elas estão a fazer, o pequeno-almoço, como é que é? Como é que ela lê? Olhar e ver. Acho que o grande trabalho da fotografia é saber olhar, não é estar perante uma coisa, isso é o que a maior parte das pessoas fazem. Depois, enquanto fotógrafo, tenho de tomar decisões que convocam um lado até mais político do meu trabalho, no sentido em que se tiro uma fotografia a uma pessoa a dois metros é uma coisa diferente do que se tirar a dez metros; fotografar de cima para baixo é uma coisa, de baixo para cima é outra. E estas são decisões políticas no sentido em que influencia a leitura da fotografia. Eu acho que é para esse lado que é preciso ter tempo, ter paciência, disponibilidade. Claro que nos tempos que correm há mais guerra, mas há uma certa inocência no olhar para o outro que é completamente generosa. Só estar olhar, sem mal, hoje estares a olhar para alguém... Posso dizer que era mais fácil fotografar alguém há 20 anos atrás do que hoje, não só eu me sinto mais constrangido, como as pessoas têm mais questões, obviamente. Há medo em ser olhado, em deixar ser olhado e há medo em olhar. Sentes que estás a invadir algum espaço, quando a curiosidade é uma coisa mesmo muito humana, não é? Acho que nos faz pior olhar menos do que quando olhamos demais, compreendemos mais o comportamento dos outros. Estás mais precavido para comportamentos que possam vir dali, sejam casais ou amigos. Na fotografia, podes decidir melhor, com mais critério, e ter mais confiança porque muitas imagens vêm de lados mais escondidos na nossa cabeça. Aquela imagem do pé com a meia já existia na minha cabeça, não te sei explicar, quando a vi...quando uma imagem aparece, se ela funcionar, é uma espécie de razão para existir, e ela vai convencer o espectador. E isso vem desse lado da observação, de não ter medo de ver, não ter medo de mostrar, de pensar. Mesmo que as puxemos um pouco para as margens, nas margens é que estão as fronteiras, e é donde vem sempre o mais interessante.

Como é fotografar numa época de sobreexposição de imagens, em que toda a gente acha que fotografa e filma? Por um lado é bom, há mais cultura visual, mas é mais difícil encontrar o silêncio da tua fotografia.
Para quem começa hoje a fotografar é realmente um problema. Posso dar um exemplo, nisto da Patrícia Mamona, havia imensas vezes em que estava lá para fotografar, vinha para casa, estava no Instagram e via coisas que ela própria punha do seu treino, normalmente, e estavam muito próximas daquilo que eu tinha feito. Portanto é preciso ter consciência disso, e não é ignorar nem ir contra, é uma batalha perdida. Não sei, eu não consigo viver sem produzir imagens, é um bocadinho como escrever, quer dizer, há os e-mails e depois a literatura. Quando se fala em Fotografia, e isto é uma coisa em que penso regularmente, ela não existe per se, o que existe é uma espécie de movimento da imagem para uma superfície, e depois tens um espectador. Se pegares numa imagem qualquer que tiras aqui a uma coisa e mostras no Instagram é uma coisa, se tem dois metros é outra coisa, se metes numa revista também é outra coisa, o que é importante é perceber, é que meios é que então ao teu dispor para mostrar o teu trabalho. E, a partir daí, pensares o trabalho a partir do dispositivo, e não tanto numa espécie de democracia de Instagram. É sempre interessante haver um meio novo ao dispor dos artistas, ou de quem queira. Quando aparece a fotografia digital também não foi a mesma coisa, lá está, o pensamento não pode ser o mesmo. Há coisas no Instagram que são realmente boas, mas são pensadas para ali, não para um livro, se as tirares dali, da sua forma de écran, se calhar perdem a piada.
Começaste a fazer livros cedo, continuas a achar muito especial essa relação com o papel?
Com um livro tens uma relação material, quando pensas em livros pensas sempre de uma maneira um bocadinho mais estanque, o livro exige várias decisões, uma página atrás da outra, porque é que um livro tem 20 centímetros e outro menos? Eu cresci com livros e com revistas e sempre percebi que o livro era uma forma muito completa de expor o trabalho e que lidava com outras dimensões, que não tens nas exposições, a temporal e a continuação da portabilidade e da democracia. Um livro é uma coisa que descobres passado 10 anos, num sítio qualquer, e de repente torna-se na coisa mais importante da tua vida. Ao contrário de uma exposição que tem um princípio e um fim, um livro ganha este lado íntimo, fica à distância dos braços.
Procuras as imagens ou deixas-te levar?
Desde que comecei a fotografar raramente tive uma ideia de ter projetos, ou coisas a que estivesse regularmente ligado, e ter de voltar; sempre fotografei coisas muito próximas da minha vida, algumas de uma forma quotidiana, outras com uma vontade minha de ir a um sítio, por exemplo, e depois lá as coisas iam-se desenvolvendo, de forma mais ou menos controlada, de forma natural. Eu acho que é a melhor expressão do meu trabalho. Por exemplo, quando expus o One's Own Arena e tive o convite para ir para uma cidade no Japão, em residência, eu tinha 36 anos e tinha acabado de ter um filho. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e pedi-lhe: "só quero que me ajudes a encontrar pessoas mais ou menos da minha idade, quero saber como é que vivem." E assim começámos a visitar casas de pessoas e a fotografar, e à volta do hotel onde estava, e acabei por descobrir que o meu próprio quarto até podia funcionar como um estúdio, foi ganhando uma certa elasticidade. Quando voltei, em 2015, não conseguia ter uma comunicação verbal profunda, mas conseguia ter uma comunicação não verbal muito forte, uma espécie de confiança que não se consegue traduzir em palavras. Eu ponho-me tanto em perigo, muitas vezes, como as pessoas, porque estou a fazer imagens e nem eu próprio sei para onde vou, e se as pessoas estão a sentir-se confortáveis. As coisas vão sendo negociadas, mas não no sentido tradicional, são pequenos silêncios ou respostas. E, em muitos casos, eram as próprias pessoas que pediam para fazer esta fotografia ou aquela. É preciso arriscar um bocado e pores-te num lugar vulnerável como autor. Outras coisas vêm do meu processo antigo, eu gosto de caminhar, fotografar alguns territórios e coisas a que volto regularmente, têm a ver com o tempo que passo a andar, a conduzir, a ver uma imagem e a fazê-la imediatamente; outras fico com elas na cabeça e volto lá um dia e faço. Depois existe um momento, como aconteceu no Japão, com a mesma geografia, ou na galeria, em que tenho uma ideia e um raio de ação mais amplo, e vou explorando temas que se vão acumulando no tempo.

Na Fotografia adoro não saber o antes e o depois, ou o que acontece fora de campo, só daquele espaço e instante. Por isso a acho mais fascinante do que o vídeo, bom, tu vens do Cinema também...
Mas eu também acho, e comparando com outras artes, mesmo com o Cinema, tem esse lado que também é frustrante: queres tanto aquela coisa, é tão tua, tens uma crença tão grande na imagem, mas mesmo assim é sempre melhor não comunicares do que dar informação a mais. Quando precisas de explicar - e o domínio da comunicação verbal é uma imposição - não estás bem no domínio de arte. A Fotografia tem esse problema das perguntas que normalmente se lhe faz: quem é esta pessoa? Porquê? Quando? O que estou a ver? Percebes que não há intermediação, supostamente a fotografia é uma cópia do que as pessoas viram, o que não é verdade.
Há sempre o não explicado, um lado de mistério humano.
É isso. Depois, a capacidade que é preciso ter para continuar a acreditar em imagens, não no sentido de ser uma verdade, mas [a ideia de] que ainda podes ser surpreendido por uma imagem, um tipo de esperança. Quando chegas a um sítio qualquer, à Tailândia, é melhor ver do que numa imagem no computador. E é teres a disponibilidade mental para quando estás a ver o retrato de uma pessoa não teres nenhum preconceito, nada vai condicionar a tua visão, é esse o sentido de liberdade de poderes olhar: devo gostar ou não devo gostar? É bom ou não é? É deixares-te sentir.