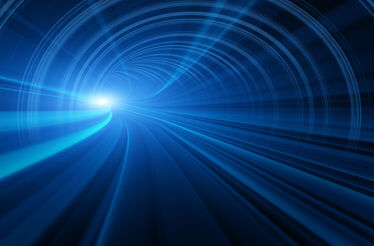Bruxarias, mortes, infância. Cristèlle Alves Meira, realizadora, é um nome a fixar
Alma Viva, que acaba de estrear, é o escolhido para representar Portugal nos Óscares deste ano. Não só é uma primeira longa-metragem muito bela sobre a identidade cultural e a intimidade dos afetos, como nela a realizadora condensa o princípio do seu cinema humanista que ultrapassa fronteiras de nacionalidade. A Máxima foi conhecê-la.
A encenação em Teatro levou-a ao Cinema, e antes de procurar a sua identidade portuguesa, herdada de seus pais, através da sétima arte, já Cristèlle vinha todos os anos de Paris para a aldeia de Trás-os-Montes onde nasceu a sua mãe, e onde se desenrola a ficção de Alma Viva. Nas curtas-metragens de Cristèlle Alves Meira – a mais recente é Tchau-Tchau, filmada durante a pandemia, mas também Sol Branco, Invisível Herói e, principalmente, Campo de Víboras igualmente filmada em Trás-os-Montes e com algumas personagens/atores d’Alma Viva – já se sente o seu profundo exercício de observação. A luz e os cenários irrepreensíveis (a fotografia é de Rui Poças), os diálogos que cruzam o realismo e a magia, tão presentes na nossa província, e tão vivos neste seu primeiro filme candidato aos Óscares (e que também esteve na Semana da Crítica de Cannes), mas também a universal verdade das famílias, de como o amor vai ao ódio e volta com a mesma força, de como todos juntos somos mais e melhores e de como a morte tantas vezes nos dá pistas para a vida.


Assim como Cristèlle, a pequena Salomé de 10 anos, interpretada pela jovem Lua Michel, filha da realizadora, passa as férias de verão com a sua avó, muito mística e muito livre para aquele pequeno e fechado mundo rural algures nas montanhas transmontanas. Entre festas e despedidas, a avó morre inesperadamente, deixando uma família à deriva, de onde emergem, irrepreensíveis, Ana Padrão e Jacqueline Corado, e alguns não atores habitantes do concelho de Vimioso. Esta morte deixa também uma sombra sobrenatural e de dúvida sobre a pequena Simone e sobre a aldeia que olha de lado esta família de mulheres fortes e pouco convencionais, como bruxas, um símbolo ancestral do feminismo. "Todas as mulheres independentes, mais tarde ou mais cedo, vão ser acusadas de bruxaria", é uma das frases-chave do filme.
Sentámo-nos com Cristèlle a conversar, no coração do Chiado.
Conte-nos um bocadinho da sua história. Nasceu em França, de uma família que vem de Trás-os-Montes, e quis que a sua primeira longa-metragem falasse, precisamente, desta origem.

Nasci nos arredores de Paris, em Monterrey, que é mesmo perto de Paris, na periferia. A minha mãe é originária de Trás-os-Montes – da aldeia onde filmámos o filme – e o meu pai é de uma vila perto de Viana do Castelo. Eles conheceram-se em França e eu nasci lá e nunca vivi em Portugal, a minha relação [com Portugal] é a relação típica dos emigrantes: é voltar no verão. Desde criança, todos os anos, fazíamos aquela viagem de França para Portugal. E depois, quando comecei a ser mais crescida, adulta, regressei várias vezes por ano, porque revelei uma relação com o azeite [risos] e então venho em novembro também apanhar a azeitona. A minha irmã já voltou, está a viver em Lisboa há 15 anos e isso também permite fazer mais regressos. Eu sinto-me tão portuguesa quanto francesa, tenho essa grande sorte de poder ter duas culturas, e foi um bocadinho difícil assumir essa dupla nacionalidade, acho que comecei a fazer cinema para questionar essa questão: qual é a minha identidade? Voltar a perceber Portugal… Comecei com um desvio através das colónias portuguesas, comecei com Cabo Verde e depois Angola, se calhar por, inconscientemente, tocar ali num tabu familiar da história do meu pai, porque sempre o ouvi a dizer que fugiu de Portugal para escapar às guerras coloniais, então fui fazer dois filmes lá - se calhar para questionar também essa parte da nossa história. E depois comecei na ficção, com vontade de entrar em contacto e mergulhar nessa cultura mais popular de Trás-os-Montes, das aldeias; de tentar contar, através das minhas histórias de cinema, das minhas curtas ou longas, as vidas dessas famílias de emigrantes. Entre aqueles que partiram e aqueles que ficaram, as brechas que se criam nas famílias, e também o ponto de vista da nova geração, que regressa e que, às vezes, não sabe como lidar com essa realidade das aldeias. Por exemplo, na minha primeira curta, Sol Branco, uma menina está aborrecida nas férias porque não pode ir para o mar, não há mar em Trás-os-Montes, e está muito calor, então vai fugir e roubar uma burra para ir até uma barragem… São várias as histórias que podemos contar sobre essa relação entre os dois países, e ainda há muitas mais para narrar.
Fico sempre comovida com os filhos de emigrantes que voltam aos países dos seus pais. Principalmente porque acontece uma coisa com os emigrantes portugueses que é tentarem esconder o facto de serem portugueses, como se fosse uma vergonha vir de um país mais pobre. Falam entre si em francês e muitas vezes nem ensinam português aos filhos, que ficam ali perdidos entre duas culturas – isso sempre me entristeceu. Levamos o país atrás, mas depois há qualquer coisa em nós, especialmente nos emigrantes em França, que se esconde um bocadinho.
Isso tem a ver com a história do país que acolhe os estrangeiros. Vou falar da geração dos meus pais, da que eu conheço. Eu nasci nos anos 80 e, naquela época, em casa falávamos sempre português. Os meus pais falavam francês, mas muito mal, então em casa era mesmo o Portugal e a cultura portuguesa que era dominante. Quando ia para a escola era a cultura francesa, e a França que acolhe esses estrangeiros tem uma força política que diz que têm de se integrar. Para os portugueses conseguirem integrar-se e existir na sociedade francesa, eles precisavam de falar a língua, e ensinar aos filhos a falar bem. Os meus pais diziam sempre, em casa: "Tu tens de estudar na escola", "tens de falar francês, ser melhor que os franceses", porque há aquele complexo de inferioridade de ser estrangeiro… Bom, já sabes, os portugueses eram todos trabalhadores da obra ou trabalhadoras de casa, então, para tirar esse complexo de inferioridade, eles [os pais] punham toda a responsabilidade nas nossas costas e tínhamos de ser os melhores - e até não é uma má educação, porque isso permitiu-nos desafiarmo-nos. Nos anos 90, quando eu andava na escola, eu não tinha orgulho nenhum em ser portuguesa. Havia uma representação dos portugueses, nas televisões ou nos media, que era muito péssima. A Linda de Suza também não ajudou a comunidade portuguesa com aquele testemunho, e então isso começou a modificar o olhar sobre Portugal. Esse olhar começou a transformar-se nos anos 2010, com a abertura do turismo e, claramente, hoje Portugal é um destino fascinante, super glamour, hoje é bom dizer que somos portugueses, porque toda a gente quer ir para Lisboa, descobrir o Porto... Já é um destino que atrai os estrangeiros. Quando andei em casting para encontrar a protagonista, foi muito difícil encontrar jovens dessa nova geração, de dez anos, que falassem as duas línguas, porque os pais já cortaram mesmo a transmissão do português. Até eu [cortei]. A minha filha, a Lua, que entra no papel, fala um pouco português, mas não fala muito bem porque o pai é francês, então eu sou a única pessoa ali a tentar transmitir a língua - é um desafio.

Vi duas curtas suas e há uma espécie de ensaio para chegar a este filme. Ou seja, este tema, quando estava a pensar na primeira longa-metragem, ainda com a sua filha na barriga, queria falar sobre a terra da sua mãe e queria falar da morte da sua avó. Foi esse o ponto de partida?
Exatamente, foi mesmo esse. Comecei a fazer curtas enquanto escrevia a longa porque não fiz escola de Cinema, e é um processo demorado de escrita e financiamento. E aproveitei esses anos, até chegar ao ponto do "podemos começar a filmar", que foi demorado, a fazer curtas que preparavam o terreno, os atores e a mim própria, os assuntos, as temáticas umas em cima das outras, o que permite, também, este filme ser tão completo. É como se fosse uma cebola com várias camadas e é uma unidade. Estes anos todos a pensar e a preparar as pessoas, todos a querer contar a mesma história dessa visão que é um sonho – é incrível querer fazer um filme. Conseguirmos uma equipa com a mesma visão, a acreditar naquele sonho, e pormos todas as energias em comum…


Provavelmente não gosta mais da sua mãe do que do seu pai, mas há uma linhagem feminina muito evidente no filme. Não deixa de ser curioso ter escolhido a terra da sua mãe e a sua avó materna, tinha uma ligação particular com essa avó?
Sim, claro, eu inspirei-me nela, mas a minha avó e a avó do filme não têm nada a ver. A minha avó não tinha dons de mediunidade, mas inspirou-me muito. Eu passei muitos meses da fase de escrita a preencher os vazios da história dela, a tentar rememorar o que poderia ter sido a vida dela. "Os mortos faziam dos vivos criadores de história", foi mesmo assim. Só que depois tive de me confortar também a mim, com essa própria subjetividade, e compreendi que a ficção era mais forte. Mas o ponto de partida foi aquela tristeza da perda de alguém e aquele sentimento de injustiça que senti naquele momento, porque eu vi – é a parte mais autobiográfica do filme, são aquelas discussões à volta da defunta, que também é óbvio em todas as famílias, a questão das partilhas, seja qual for o meio social. Mas, no meu caso, ela ficou dois anos sem sepultura e aquilo mexeu muito comigo.
E é só? Ou há mais do que uma camada nessa inspiração?

Também tem a ver com a minha paixão por uma peça de teatro, Antigona, onde uma personagem quer restabelecer a justiça para o defunto, e eu senti: "Eu tenho que fazer justiça pela minha avó". E foi assim, com esse sentimento, que comecei a escrever. Depois, a ficção começou a ganhar terreno e foquei-me mesmo na relação de uma avó com uma neta, na questão de transmissão, mas também na questão das crenças, do místico, do esoterismo, do sobrenatural que atravessa também estas montanhas. O Miguel Torga diz: "Trás-os-Montes é uma terra em que o terror mágico se mistura com uma busca do sobrenatural". E acho que há um pouco disso no Alma Viva: é o terror e a busca do sobrenatural como uma coisa maravilhosa. E há ali muita luz e, ao mesmo tempo, muita escuridão. Até nas minhas conversas com o Rui Poças, falámos da luz do filme, eu estava sempre com essa contradição "luz, noite, dia", porque também tem a ver com as minhas memórias das férias em Portugal, para mim eram aquelas tardes muito quentes, com muita luz. O primeiro filme, Sol Branco, tem a ver com aquela luz muito agressiva das tardes, das montanhas, e depois aquela escuridão das casas muito fechadas, porque está muito calor, então as janelas são muito pequeninas, muito fechadas naquelas cozinhas. E aquelas noites com céus estrelados, na minha infância ainda havia lobos, e ouvir os lobos criava uma sensação de terror, mas que me fascinava bastante.
De onde vem esse fascínio pelo fantástico?
É verdade que essa história de feitiçaria, de espíritos, no filme tem a ver com histórias que eu ouvi da minha infância, muitas histórias da aldeia, de guerras entre vizinhos por causa de maus olhares, de ter ido consultar uma bruxa que fez não sei o quê, e isso são matérias incríveis para histórias de romances, de filmes. Há, ao mesmo tempo, fascínio e medo. Quando comecei a escrever Alma Viva foi também um processo de dizer: "Eu tenho o direito de falar sobre esse tabu que é o a morte e a bruxaria – até a palavra bruxa ainda é pesada, pesa nos nossos ombros, mulheres morreram por causa disso. E hoje, em 2022, falar sobre as bruxas é lidar com aquele símbolo mais feminista, não é por acaso que os feministas foram buscar esse símbolo nos anos 70. A linhagem feminista tem a ver com essa parte inconsciente de sermos todas consideradas bruxas. E é verdade que a minha avó não era bruxa, não praticava, mas foi tratada como bruxa, como muitas mulheres na aldeia. Todas as mulheres que saiam do padrão eram bruxas, porque isso facilita, na sociedade patriarcal, criar vítimas.


No filme, o filho cego às tantas diz: "Todas as mulheres independentes, mais tarde ou mais cedo, vão ser acusadas de bruxaria". E ainda hoje, em pleno século XXI, uma mulher independente continua a ser estranha.
Claramente. Mulher divorciada, mulher que não quer filhos, mulher que gosta de outras mulheres, viúvas ou mulheres que têm amores ilegítimos, que têm uma sexualidade um pouco mais aberta ou são erotizadas… Sim, sinto que ainda estamos na herança da nossa história feminina, e que ainda a estamos a combater, num momento de grande revolução. E é importante, eu tenho a minha filha e penso nela, espero que daqui a 15 anos, quando ela tiver 25, já não estejamos nestas questões de minorias, de quotas… Estamos a precisar disso agora, mas espero que daqui a 15 anos já esteja tudo equilibrado e que ser mulher ou homem seja algo mais neutro na questão do género. Hoje ainda não é assim.

Hoje eu sei que as mulheres estão a ganhar prémios nos festivais porque são mulheres, porque temos de entrar nas quotas. Vamos aproveitar essa situação, claro, mas também me sinto um pouco "estragada" por essas quotas, quando me dizem: "Ah, tu vais conseguir aquele prémio porque agora temos de premiar as mulheres". Isso estraga o meu trabalho. Eu penso: "Estão a premiar-me pela minha obra?" Ainda é preciso relembrar o que se passou para questionar o presente. No Alma Viva - espero, pronto, eu tentei – que o caminho fosse esse: regressar a práticas arcaicas para questionar, outra vez, qual é o mundo, qual é a nossa herança, onde é que estamos.
A maior parte das mulheres viviam, e ainda vivem muitas delas, em algumas culturas, muito em casa, próximas umas das outras, portanto quando falo na linhagem feminina também me refiro à força das mulheres que vinha da domesticidade, e isso sente-se muito no filme. As mulheres são muito fortes, são elas que seguram tudo, provavelmente é assim na sua família, é na minha, e em muitíssimas outras.
Está-se a criar-se agora a sororidade, as mulheres juntam-se para criar uma força.
E porquê o olhar do filme ser o de uma criança?
Durante muito tempo foi uma adolescente, mas quando estava a ler o argumento, senti que tinha de contar também os primeiros amores de verão, porque os adolescentes são sensualidade... Então, como o filme estava dividido entre a relação que ela tinha com a avó e essa transmissão esotérica - e, ao mesmo tempo, as primeiras vezes em amor, a descoberta do corpo - não saberia muito bem o que queria contar. Quando decidi que a Salomé ia ser uma criança e isso pôs de fora a questão dos amores de verão, que também já é óbvia, isso permitiu-me focar-me só na transmissão dessa morte por bruxaria. E o facto de ser criança também possibilitava um olhar – que é o primeiro plano do filme – sobre a infância. A infância permite uma abertura mais natural sobre o imaginário, o invisível. Se é uma adolescente que começa a falar com os mortos pensamos: "Ela tem problemas psiquiátricos", e o limite é sempre esse. As pessoas que têm poderes inexplicáveis, também têm uma fronteira com a loucura, que é o meu limite. É uma criança que tem uma abertura natural para o maravilhoso, para a magia. E a infância é também aquele momento das histórias iniciáticas. Muitas vezes dizem que a infância é um paraíso, para mim não foi, e acho que não é. Também é a altura dos primeiros terrores noturnos, momentos bastante solitários, porque estamos a ver como funcionam os adultos, mas somos também confrontados com a brutalidade deles, a aprender como vai ser a vida real. Sentimos isso no percurso da Salomé: ela avança sozinha, como uma guerreira, e os adultos nem reparam nela, não acreditam no que ela viu, ela tem de restabelecer a justiça para a avó por ela própria. E tem a força de uma personagem de romance ou filme de aventura, quase.
Vem do Teatro, como faz a passagem para o Cinema? É muito evidente no seu filme, a depuração do cenário, a qualidade da luz...
A minha primeira paixão, o que me atraiu, foi o Teatro, eu entrava no teatro como se fosse uma igreja. A sala de teatro tem esse poder muito sagrado de ficarmos ali todos no escuro, a ouvir pessoas ao vivo, e comecei por lá. O Teatro faz com que a minha forma de compor a imagem tenha profundidade de campo, trabalhar os diferentes níveis de ação: primeiro, segundo plano, o fundo da cena, jardin court. É verdade que quando vou pensar nos meus planos, ainda tenho aqueles tiques do teatro, e até nos planos mais abertos. O que o filme tem também de mais teatral é a questão da tragédia. Como exemplo, a personagem do tio Dante, aquele cego que já sabe antes dos outros, que pressagia, o que vai acontecer.
Eu fiz teatro ao mesmo tempo que fazia documentários em Cabo Verde e Angola, por querer questionar a minha identidade portuguesa. [A estética do teatro no filme] é um pouco inconsciente, tem a ver com a minha experiência. Há muitos planos abertos no filme: como por exemplo quando ela passa pelos músicos, aquilo é muito teatral, aqueles bombos, quer dizer, a música era extradiegética [não contada pelos personagens], ou seja, muito cinema, e de repente é uma música teatral, porque entra no plano mesmo em live.
As minhas obsessões, nas peças que fiz, têm muito a ver com o Cinema. A primeira foi Os Negros de Jean Genet, que apenas questiona a identidade e a morte. Isto é tudo um bocadinho inconsciente. Passei para ficção também por existir uma crise no Teatro. No Teatro eu era a minha própria produtora, [claro que] o Cinema também é muito precário, mas o Teatro é muito mais. Fiquei com dívidas muito grandes e aquilo cansou-me tanto que pensei: "Bom, agora tenho de fazer outra coisa". Precisava muito de uma nova energia na minha vida, foi por passar um momento muito mau, muito em baixo, que me transformei… E não foi fácil, ter a coragem de dizer: "Ok, agora vou fazer ficção." Mas consegui e não estou arrependida. Se calhar, um dia destes, volto para o Teatro. Acho que o filme também diz um pouco sobre isso: aquela menina está a sofrer um luto, mas a dizer que o luto é a força dela. Às vezes são os nossos sofrimentos que nos transformam.

Há outra coisa muito bonita no seu filme, que é a forma como a morte é tratada, não é esquecido o seu lado triste, mas há ali uma espécie de renascimento dentro daquela menina, como diz. E depois há um encontro das personagens perante a morte e uma frase de que gosto muito que diz: "Os mortos abrem os olhos aos vivos". A morte de pessoas próximas, mesmo que figurada, sacode-nos para a vida?
É verdade, sim. Eu tenho uma obsessão pela morte. Há muitas pessoas que escrevem romances e fazem filmes sobre a morte porque é o maior mistério da vida, é o que nos faz questionar e contar histórias. E porque o Cinema permite tornar a morte aceitável, porque é uma coisa muito inaceitável na vida real, muito frontal e difícil. O Cinema permite criar uma estética, uma magia, uma poesia à volta da morte, que nos fascina – eu acho que a morte não devia ser um tabu. O filme está a tentar assumir uma certa frontalidade na forma de filmar a morte, estou a pensar naquela última cena do cemitério que é muito demorada e frontal - muito teatral. com o gesto de por as mãos na terra, e ter o peso daquele defunto no corpo… quer também dizer que não podemos fugir a essa realidade, que já sabemos todos que a finalidade é essa e faz parte da vida. Tive espetadores que me disseram "mas como é que você fez para trabalhar com essa menina tão pequenina, a própria filha, sobre a morte?", porque as pessoas ficam envergonhadas. Tal como os rituais, eu acho que o filme também está a tentar dizer "o quê? Não vale a pena estares a esconder-te a falar do bem ou do mal, das maldições dos rituais pagãos", as crenças também são política e estamos com medo, isso da nossa herança histórica também, se for usando plantas para me curar já vão pensar de mim… temos de nos libertar desses preconceitos. Acho importante podermos falar todos livremente sobre a morte e sobre as crenças.
Aquela pergunta inevitável: esteve no festival de Cannes, vai representar Portugal nos Óscares, e vai andar pelo país a mostrar os seus filmes. O que significa, tudo isto, para si?
Uns dias vamos para o norte, mostrar em Trás-os-Montes, no Vinhoso, porque as pessoas que participaram no filme ainda não o viram. Vamos para o Porto fazer umas antestreias e também vou acompanhar vários festivais durante estes meses todos. Vou estrear em França a 15 de março, e vamos ter estreia na Bélgica, e também no Brasil, em Espanha… Quantas mais pessoas virem o filme melhor é para a partilha desta história. Fico muito contente, agora o filme já não é meu, já pertence ao público e é mesmo lindo de ver como podemos deixar uma marca no pensamento do espetador. Espero deixar uma marca em cada espetador que vir o filme.
A Cristèle é francesa, mas também é portuguesa, e volto ao princípio da nossa conversa: nesta viagem, o que é que encontrou de muito português em si, ou que tivesse confirmado?
É uma linda pergunta. Encontrei o orgulho de não me esquecer de onde venho, e o orgulho de mostrar a riqueza de um meio rural e popular que pode ser às vezes mal contado ou caricaturado. Eu venho de um meio muito simples, estou muito orgulhosa de ter nascido de pais que vêm da terra e de meios menos intelectuais, porque há uma abertura e uma riqueza que eu espero que o filme consiga transmitir. Quase uma espécie de verdade, não é? De autenticidade. E dizer a quem pensa que está na margem, ou que está a fazer mal por dizer palavrões ou ser muito excessivo:"Não, vocês são livres de ser assim porque não entram na margem. É essa a vossa singularidade, a vossa loucura". O seu retrato no Cinema vai mais pela comédia, mas, para mim, é [sobre] a força deles: eles saem daquele enquadramento, às vezes um pouco aborrecido, das pessoas muito controladas e que falam muito bem.