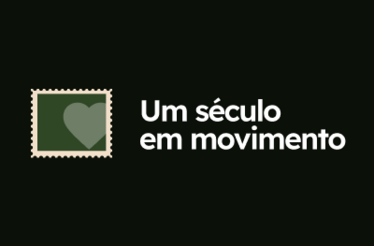Annabela Rita: "Há uma historiografia que é feita com base na visão heroica e que reserva à mulher um papel doméstico"
Durante muito tempo, as mulheres ficaram fora das narrativas oficiais. A História da Literatura não foi exceção, com as autoras anteriores ao século XX a representarem menos de 5% das referências. Mas, lentamente, surgem sinais de mudança. "História Global da Literatura Portuguesa", agora publicada, é reflexo dessa nova abordagem historiográfica, mais diversa e plural.

Foram precisos quatro anos de trabalho efetivo e tantos outros de preparação para que a História Global da Literatura Portuguesa (Temas e Debates) chegasse finalmente às livrarias. Com direção de Annabela Rita, Isabel Ponce de Leão, José Eduardo Franco e Miguel Real, o livro conta uma equipa muito alargada de coordenadores e autores. "Tentámos juntar pessoas de diferentes universidades – e países - com diferentes perspetivas e especializadas em diferentes épocas, trazendo também pessoas de outras áreas disciplinares. Acreditamos que é esse cruzamento de olhares que permite olhar a literatura de uma forma mais caleidoscópica", explica Annabela Rita, professora aposentada da Universidade de Lisboa e investigadora do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Mais do que um dicionário com entradas estanques ou um inventário de nomes e obras, o livro propõe um novo olhar, uma atitude dialogante, curiosa e plural.
E as mulheres? Que lugar têm nesta nova narrativa? Tendo em conta que a percentagem de autoras anteriores ao século XX mencionadas nos manuais de História da Literatura Portuguesa parece ainda ser residual, quisemos perceber de que forma é que esta abordagem abre espaço para figuras repetidamente deixadas de fora.
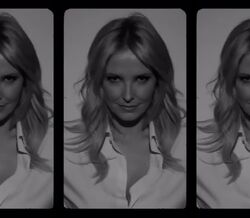
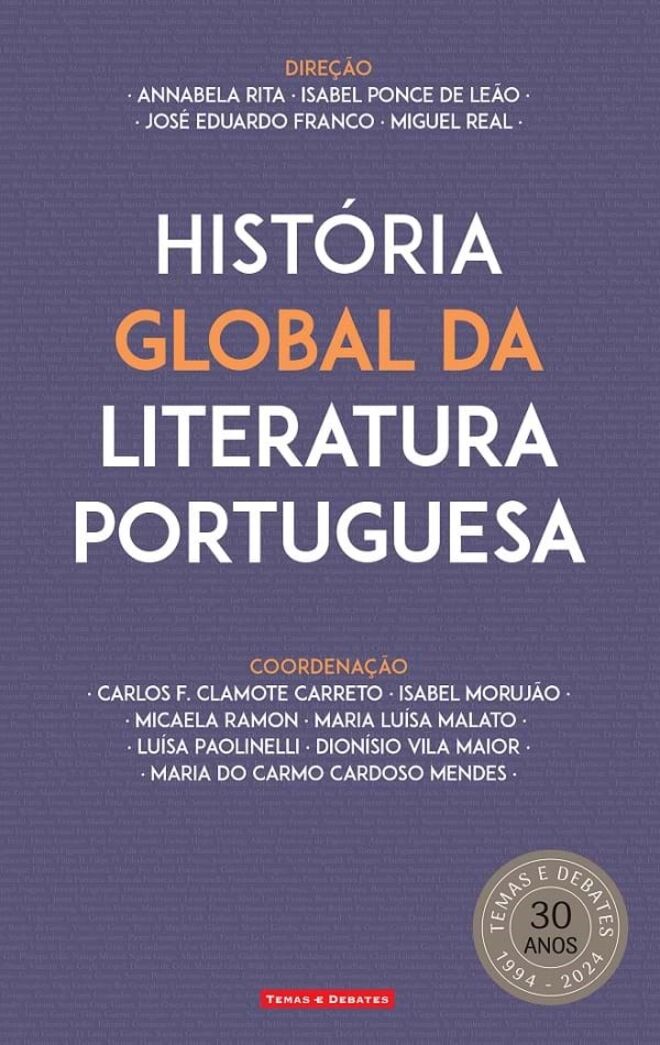
O que é que distingue esta obra de outras Histórias da Literatura?
Explicar essa decisão obriga-nos a pensar naquele que é o paradigma habitual das Histórias da Literatura, muito focado na dimensão nacional. A ideia da construção de uma identidade nacional reflete-se na História nacional espacio-temporalmente definida, quer na área da Historiografia sociológica ou política, quer na área da Literatura. Ora, aquilo que a ciência hoje nos transmite é que o fenómeno está inscrito numa rede de relações.

Ou seja, não é possível olhar para um fenómeno e pensá-lo de forma isolada do resto?
Sim, e isso tem a ver com a própria evolução da Historiografia enquanto disciplina. Fernand Braudel [historiador francês] falava de um tempo longo, de um tempo mais breve e de um tempo à medida da existência do indivíduo. E essas três paisagens coincidem, estão fundidas. A História da Literatura vai beber muito a este pensamento expansivo, que beneficia da ideia de que Portugal está inscrito numa Península, que, por sua vez, está na Europa, e esta inscrita no mundo. O local está inserido no global e a globalização marca a existência do Homem na terra. Não podemos esquecer que a humanidade viveu sempre em diáspora (v. nomadismo), como demonstra o projeto do DNA que estuda as migrações da espécie. Depois da sedentarização, p. ex., na Idade Média, as ordens religiosas eram grandes empresas internacionais que faziam circular as pessoas e, com elas, as línguas, as ideias, as culturas. Tudo isso faz parte da História global. Se é verdade que as Histórias Literárias assentes no nacional foram importantes para um levantamento da existência dessa identidade [nacional] que se exprime através da literatura, também é verdade que esta outra componente, a do diálogo entre o local e global, é absolutamente imprescindível para uma compreensão mais abrangente.
O livro resulta, então, dessa tentativa de adotar um olhar mais transversal, que não se circunscreve à História Nacional. De que diálogos estamos a falar?

De muitos, na verdade, mas, em especial, de dois no espaço da cultura: aquele que o autor de cada texto estabelece com os seus contemporâneos e com a sua anterioridade, mas também o diálogo estabelecido pelos sucessivos leitores, que irão relacionar cada texto com o seu próprio imaginário e referencialidade. (...) Nada existe sem influenciar o que está ao lado. É com base nesta premissa que o nosso local, a Literatura portuguesa, se assume como glocal, quando se inscreve numa globalidade que lhe dá uma moldura de sentido.
Como é que esse posicionamento se reflete e concretiza no livro?
Há um modelo e uma estratégia que foram transmitidos a todos os colaboradores escolhidos para assinar os diferentes verbetes [os capítulos]. Trata-se de uma nova visão. Todos nós, autores, coordenadores e diretores da obra, conhecíamos a Literatura portuguesa em função dos modelos com que fomos criados e formados, e que continuam válidos. Mas, agora, queremos observar a paisagem de outra maneira, ou seja, através de uma rede de relações que se expande no tempo, no espaço e nas próprias áreas disciplinares. Por isso, os textos em análise surgem em relação com outros textos, que podem ser musicais, pictóricos, etc. Por exemplo, não podemos pensar Sophia [de Mello Breyner Andresen] sem pensar a Antiguidade Clássica. (...) O positivismo representava a mudança histórica como uma flecha linear e ascendente. Hoje sabemos que não é assim: a metamorfose, na literatura como nas outras artes, não é linear e só se entende se tivermos a visão [mais geral] da paisagem.

Porque é que a percentagem de mulheres nos manuais de literatura portuguesa ainda é residual?
Na literatura portuguesa, e também nas outras. Há várias razões para isso: a primeira é que há uma historiografia que é feita com base na visão heroica e que reserva à mulher um papel doméstico, ou seja, uma figura que não está inscrita no centro da cena. É o caso das epopeias, sempre em torno do herói. É assim desde a Antiguidade Clássica e, mais tarde, também no Renascimento. Depois, importa lembrar que a mulher nem sempre tinha uma formação cultural. No entanto, elas foram estando presentes e produtivas.
Em que exemplos podemos ver isso?
Basta olhar, por exemplo, para a vida monástica: aí, elas foram desenvolvendo a sua escrita. Os conventos eram um lugar importante nesse sentido porque, neles, não apenas se transmitia e registava esse conhecimento, como se permitia a sua circulação. As ordens religiosas põem os seus membros a circular e, assim, a sua literatura também circulava. Refiro-me a cartas, confissões, poemas, um certo contoário. Muita dessa literatura foi matéria selecionada e reunida em obras antológicas. Algumas tiveram mais brilho na sua divulgação, mas muitos desses textos acabaram por ser retomados. Há um verbete sobre essa literatura de Isabel Morujão.
Que outras mulheres pode referir mais?
Outras houve que se distinguiram na aristocracia, como Christine de Pizan [1364-1431], em França, por exemplo, que, a dada altura, responde a uma tradição masculina [sobre a suposta malícia das mulheres] criando uma dinâmica intertextual [falando da malícia dos homens], num diálogo em espelho que a literatura explorará. Depois, as mulheres começam a ter uma presença mais visível, circulando nos salões do séc. XVIII, onde sobressaiu a nossa Marquesa de Alorna (1750-1839). O século XIX acaba por conduzir ao sufragismo e, mais tarde, a revoluções que abrem caminho para minorias que se querem manifestar, entre elas as mulheres. Verbetes diversos referem a escrita feminina e, em particular, nos periódicos (lembro o Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro (1851-1932), onde Guiomar Torrezão foi colaboradora e que inspirou o seu Almanach das Senhoras (1871-1928)), como é o caso do de Luísa Paolinelli.
Foi o que acabou por acontecer em Portugal aquando do 25 de Abril, que trouxe às mulheres a possibilidade de aceder a áreas que lhes estavam vetadas. Mas, ainda antes disso, as mulheres foram encontrando estratégias para publicar.
Sim, algumas autoras escreveram em periódicos, como podemos ver no projeto "Mulheres Escritoras", no levantamento feito no séc. XX até essa altura, muitas recorrendo a pseudónimos. Por um lado, faziam-no para conseguirem publicar, por outro, para poderem dizer o que queriam – e que, provavelmente, seria mal visto se fosse dito por uma mulher. Assim conseguiam escrever sem ser censuradas. A partir da década de 1960, a disciplina dos Estudos Culturais - fundadora do Center for Contemporany Cultural Studies (CCCS) da Universidade de Birmingham, criado em 1964 -, percebeu a importância que as várias minorias tinham na perceção do que eram as maiorias. Daí que a Historiografia, em geral, passasse a atentar a essa nova paisagem: começa a ter uma malha cada vez mais complexa, já não está atenta apenas ao herói ou às lideranças, começando a aceitar a incursão em territórios que não eram os seus, como a biografia, o espaço privado... Nas biografias régias, surgem, também, as rainhas. São essas figuras antes esquecidas que vão bordando a ponto cruz a nossa tapeçaria da História, porque elas também são o barómetro.

O cânone literário continua a ser um reduto masculino?
Há uma ideia de que o cânone é um conjunto fixo de obras de referência e não é verdade. À medida que as obras vão surgido, vão sendo lidas e relidas e mudando o seu lugar nesse mapa/lista. O teste do tempo e da receção é importante. Depois, a nossa perceção da identidade também se altera, portanto, se a literatura (também) é uma cristalização hipercodificada da cultura, a nossa visão de nós mesmos vai influindo nas seleções que vamos fazendo. O cânone, originalmente uma unidade de medida, não é permanente, é altamente mutável no espaço e no tempo. Essas alterações vão dando conta dos sentidos da História e da Cultura.
Reparei, por exemplo, nas páginas dedicadas aos escritores-âncora que só está uma mulher, Sophia de Mello Breyner. O capítulo sobre autores de culto é exclusivamente masculino. As mulheres são, ainda, muito minoritárias?
Evitámos, tanto quanto possível, que houvesse capítulos sobre autores específicos. Optámos, sim, por temas que fossem transversais a autores. Por isso, há muitos que surgem em diferentes temas e outros nem chegam a surgir, porque não tivemos nenhuma pretensão de exaustividade. Tal como as mulheres, mais observadas pela Máxima: na secção do século XX, elas são tematicamente diferenciadas, umas na política, outras no exotismo, no fantástico, no erótico, no thriller, através da visão sociológica... Um dos autores que trabalhou a escrita feminina, o Fábio Mário da Silva, escreveu sobre a presença de mulheres no cânone. Mas, nesta obra, a estratégia foi definir âncoras no tempo que nos permitissem falar da paisagem que as excede, o que explica a repetição de autores e obras. Não quisemos fazer um levantamento da existência, mas assinalar caminhos exploratórios.
Como é que lidam com as ausências?
Muito bem, porque o objetivo não era a exaustividade. Os Dicionários de Literatura e a historiografia literária anterior fizeram esse trabalho, continuam a fazê-lo, e muito bem. A nossa intenção era, através daquela cartografia, ver outra paisagem, ver determinadas figuras a dialogar num espaço muitíssimo mais vasto do que o português, inclusive para além da Literatura. Esse exercício iria permitir-nos repensar cada uma dessas obras. Acresce a novidade de muitos temas como "Ecocrítica", "Literaturismo", "Tradução", "Prémios Literários", "Hipermédia e transmédia: Tecno-arte-poesia", "Texto e metatexto", "Antropoceno e Literatura", dentre outros.

No livro é dito que a exclusão de mulheres das Histórias oficiais foi muitas vezes justificada com a dificuldade em associá-las a escolas ou correntes. Num esquema como aquele que seguem deixa de haver essa necessidade?
Exatamente, porque elas deixam de estar rotuladas para passarem a estar em diálogo. Veja-se, por exemplo, o caso da [freira] Mariana Alcoforado [1640-1723]. As suas cartas circularam, foram publicadas em francês e em inglês, fizeram um caminho de releitura e problematização que nos conduz até às Novas Cartas Portuguesas (1972) [de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa], que, por sua vez, levam a Literatura à barra do tribunal num processo encerrado após o 25 de Abril de 1974. Esse livro demonstra a capacidade que uma obra tem de repensar outra e de inovar a partir dela (neste caso, no espaço da literatura epistolar, onde se impõem Ligações Perigosas, 1782, de Choderlos de Laclos, e no da amorosa, onde sobressai, p. ex., Clélie, 1654, de M. de Scudéry, que celebrizou o Mapa do Tendre, composto a várias mãos e inspirador de muitos outros). Essa é uma das funções da Literatura.
No livro é desenvolvido o conceito ‘escrita-mulher’, de Béatrice Didier. Faz sentido falar da escrita tipicamente feminina ou de um género feminino?
É possível pensar a escrita feminina de diferentes maneiras. Uma é a escrita das mulheres, que escrevem de determinada maneira e que, como qualquer fenómeno, é suscetível de ser analisado. É uma componente dentro da literatura, que pode ser comparada com outra. Todas as hipóteses de estudo são válidas e devem ser perseguidas porque nos permitem entender melhor o fenómeno. Por outro lado, também existe a visão de que a Literatura é Literatura, não fazendo sentido distinguir masculino e feminino. Mas a primeira abordagem não menospreza necessariamente a escrita das mulheres: apenas elege um corpus mais reduzido, investigando um modo de escrita marcado pela perspetiva e por temas. O rótulo da escrita feminina não é uma forma de subvalorização, é, sim, um rótulo para exprimir o corpus em análise. Esse tipo de preconceito existirá na sociedade, em geral, mas não deve afetar os especialistas.