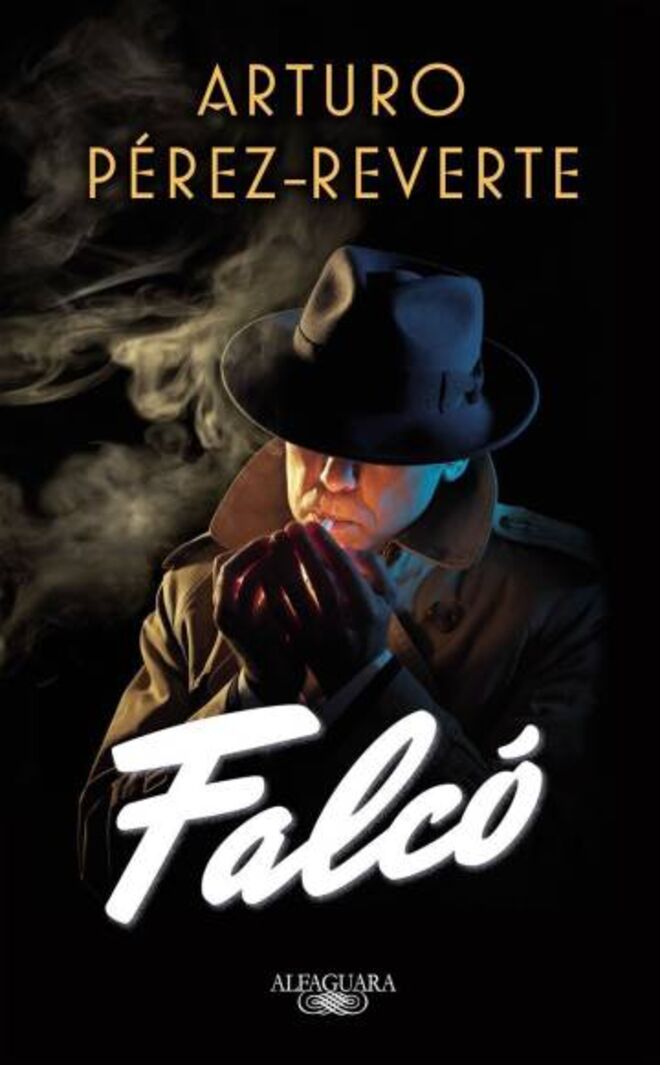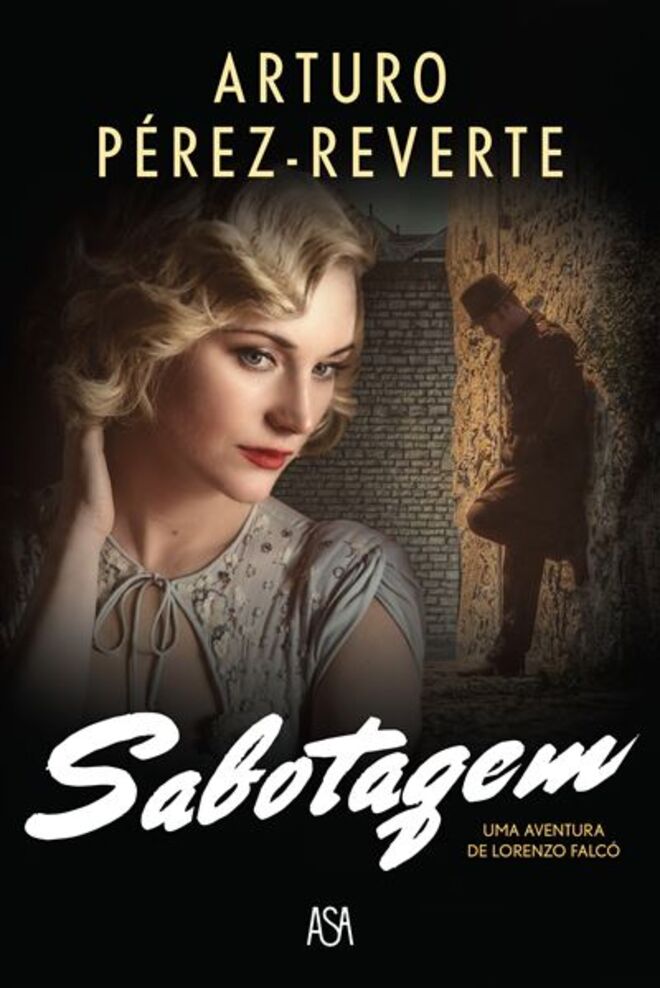Arturo Pérez-Reverte: “Agora parece que os escritores têm a obrigação de lutar pelo bem da humanidade”
Entrevistámos o escritor espanhol mais lido da atualidade que nos confessa não escrever com a intenção de agradar. Terá sido o realismo das suas personagens a catapultá-lo para o sucesso?

Arturo Pérez-Reverte nasceu na cidade espanhola de Cartagena a 25 de novembro de 1951. Trabalhou 21 anos em jornalismo, nomeadamente como repórter de guerra, e entre os vários prémios que ganhou no âmbito de reportagem, distingue-se o Prémio Astúrias de Jornalismo (pela cobertura da guerra da ex-Jugoslávia para a TVE). Licenciado em Ciências Políticas e Jornalismo, trabalhou durante doze anos no jornal Pueblo e nove nos serviços informativos da Televisão Espanhola (TVE), sendo especialista em temas de terrorismo, tráficos ilegais e conflitos armados. Diz que foram os livros que o fizeram partir para as suas viagens - queria ser as personagens que neles lia e viver as suas aventuras. Nunca quis ser escritor, mas tornou-se no autor espanhol mais lido da atualidade. Ao telefone com a Máxima, Pérez-Reverte revela as razões por que adora a personagem de anti-herói, Lorenzo Falcó, o protagonista da trilogia Falcó, Eva e Sabotagem – este último recém-publicado em Portugal. Mas também fala sobre a importância dos clássicos na literatura, sobre as circunstâncias em que escreve e sobre o "politicamente correto" que, de resto, nada tem a ver com ele.
Foi um escritor tardio. Como é que recorda a sua infância e em que momento surgem os livros?

Eu vivia numa casa que tinha uma biblioteca muito grande. Desde muito pequeno, inclusive antes de saber ler, abria os livros que tinham imagens e ilustrações. Toda a minha vida vivi com livros, para mim eram uma "paisagem" muito familiar. Tinha avós com géneros de leitura diferentes. O meu avô tinha uma biblioteca com os clássicos da literatura e os grandes romances do século XIX, já a minha avó adorava o romance moderno, a literatura americana, policiais, e a literatura europeia do século XX. Convivia com essas duas abordagens da literatura na minha própria casa. Quando comecei a trabalhar como jornalista [de guerra] levava sempre uma mochila cheia de livros, eram a minha companhia permanente. Hoje vivo numa casa com mais de 30 mil livros. Não posso estar sentado num lugar sem ler.
Viajou e trabalhou pelo mundo. Em que ponto percebeu que ia dedicar-se à literatura?
Eu tenho um amigo escritor, o meu grande amigo Javier Marías, com a mesma idade que eu. Desde jovens que lemos os mesmos livros, ou livros idênticos. A diferença é que ele queria escrever os livros que tinha lido, e eu queria viver esses livros. Então o Javier dedicou-se a ser escritor desde muito jovem, e eu agarrei numa mochila e fui viajar. Eu queria ser eu, nunca quis ser escritor nem o sou por vocação. Fui trabalhar como repórter de guerra, passei por África, Ásia, América-Latina, Moçambique, Angola… foram os livros que me impulsionaram a viver essa vida. Eu sou um escritor tardio, só comecei a escrever depois de ter vindo desse mundo.

E o que é que o jornalismo de guerra lhe ensinou de mais precioso, sobretudo para a profissão de escritor?
Ser jornalista deu-me uma forma de ver o mundo. A vida que levei nesses países, durante essas guerras, fez-me ter uma determinada visão do mundo. Fez-me ver o mundo como um lugar perigoso e o ser humano como uma personagem ambígua que se move por dinheiro. A minha visão e perspetiva atual enquanto escritor é o resultado da soma dos livros que li e das coisas que vivi. Eu não sou um escritor teórico, nem aprendi a sê-lo com aulas metódicas, ou discussões intelectuais ao mesmo tempo que tomava uns copos. Aprendi num mundo em que havia guerra, revoluções, mortos, barbaridades, tragédias, vivenciando isso tudo na primeira pessoa.
Ser autor de romances históricos significa mergulhar no passado? Como é que gere esse recuo no tempo?

Nem todos os meus romances são históricos, alguns passam-se na atualidade. Quando tenho em mãos uma novela histórica [isso] requer a consulta de muita documentação, de mais [tempo na] biblioteca, de mais livros. A parte boa é que obriga-nos a ler, a conhecer lugares. Coisas que nunca leríamos noutras circunstâncias e que se prolongam para um ou dois anos de leituras interessantes. Tem que existir um grande rigor histórico.
O que é que nunca pode faltar na escrita de um bom escritor?
Há muitos tipos de escritor. Um escritor como eu precisa de ter lido os clássicos, eu acredito que um escritor ocidental precisa de ter uma grande formação cultural europeia. Por um lado, os clássicos gregos e latinos, por outro, a literatura do século XV e XVI, a origem das línguas como o português e o espanhol. Depois, o romance do século XVIII e XIX, de onde saíram as grandes estruturas das narrativas modernas. O que acontece é que há muitos escritores jovens que defendem que essas leituras não são necessárias, consideram que a literatura pode ser mera criação da própria experiência. Ignoram - ou não sabem - que um escritor é melhor quando conhece muito bem a memória cultural do mundo em que se move. Um escritor que não tenha lido Homero, Virgílio [Ferreira], Camões, Eça de Queirós, [Miguel de] Unamuno, [Miguel de] Cervantes, Thomas Mann, [Joseph] Konrad…rara vez será um bom escritor.
É o autor mais lido de Espanha. Sente a pressão da indústria literária para escrever livros?
Eu escrevo romances há 30 anos. Tenho livros publicados em 40 países, e leitores fiéis que me conhecem bem. Não sinto pressão, os meus livros vendem com naturalidade e a minha editora também. É um mecanismo funcional que não contempla nem surpresas nem pressões. Eu não sou um artista, não escrevo por impulso da inspiração, sou um escritor profissional que conta a história dessa mesma forma. Tenho um público e uns editores que me respeitam. O meu trabalho é contar histórias, é um trabalho diário e rotineiro.
Onde é que habitualmente escreve?
Em minha casa. Eu escrevo na minha biblioteca, preciso de ter os livros à minha volta para quando tenho algum problema técnico, quando alguma questão me bloqueia. Gosto de ter os meus escritores preferidos perto, como Konrad, [Alexandre] Dumas, Thomas Mann ou [Honoré de] Balzac. Recorro a eles para procurar conselho. Escrevo sem música, sem incidências, nem telefone. Nem sequer tenho o meu computador conectado com o exterior. O meu isolamento é absoluto. Quando viajo levo apontamentos para corrigir ou leio para tomar notas – mas é só.
Sempre é verdade que um escritor se baseia nas pessoas à sua volta para dar traços às suas personagens? Acontece-lhe?
Nem sempre, mas muitas vezes. As que me rodeiam, ou as que passam por mim na rua. Para mim [nesse aspecto], há dois tipos de escritor: o recoletor, que está sentado, no seu lugar, e saca tudo do seu interior. E o caçador, como eu, que sai à rua para encontrar material para a sua escrita: pessoas, situações, músicas, rostos, lugares, expressões, palavras... É como levar uma mochila e por lá dentro coisas. Eu guardo tudo. Além disso, retiro rasgos de personalidade de pessoas que conheço melhor.
Qual foi o maior desafio desta trilogia, que agora encerra com Sabotaje? Vai ter saudades de Falcó?
Falcó é um grande amigo meu, após todos estes anos. Aos meus olhos é um tipo interessante (…) sobretudo porque não é politicamente correto. Parece que toda a gente está a criar personagens ecológicas, feministas, humanas, que querem fazer do mundo um lugar melhor… e as minhas personagens não são assim. São incorrectas, assassinas, machistas, violentas. Mas também têm um lado simpático, bonito e encantador. O desafio era conseguir que, num momento politicamente correto, os meus leitores quisessem conhecer uma personagem que não o é.
Mas Eva, do segundo livro, é uma mulher feminista…
Em todos os meus romances há mulheres fortes. Eva é um oposto a Falcó. Agora parece que os escritores têm a obrigação de lutar pelo bem da humanidade, como se tivéssemos uma obrigação moral de fazer do mundo um lugar melhor. E eu não acredito nisso. Para isso há os Médicos sem Fronteiras, uma ONG, os enfermeiros. Eu escrevo para os meus leitores, para contar histórias reais e credíveis, para retratar o mundo como eu o imagino. Os meus romances não têm que ter uma moralidade. Eu não sou Falcó, ele é uma personagem da minha imaginação. Mas adoro que ele seja politicamente incorreto.
Nesta trilogia evoca muitos locais portugueses. Foi um país crucial para a espionagem?
Portugal, e sobretudo Lisboa, foi fundamental tanto na guerra civil espanhola como na guerra colonial. Para escrever um romance de espionagem nos anos 30 era inevitável que Lisboa aparecesse. Adoro a cidade, viajei muito para lá, e nos meus romances está sempre muito presente. Gostava mais de Lisboa no passado, porque a Lisboa de hoje tem mais dinheiro, mais Turismo, mas a que eu amei era uma cidade senhorial, antiga, nostálgica, melancólica, elegante, com gente agradável e encantadora - e desapareceu. Na trilogia de Falcó há uma pequena homenagem a essa Lisboa que eu tanto amei.
Qual é o seu escritor português preferido?
Gosto muito de Eça de Queirós, foi um escritor que li muito jovem em casa da minha avó. Li toda a sua obra, que continuo a revisitar. Claro que também gosto muito de [José] Saramago, que tinha uma visão muito ética e política.
É avesso ao politicamente correto. Acha que é também esse um dos segredos do seu sucesso?
Escrevo há 30 anos, e nessa altura o politicamente correto não estava na moda. E os romances já tinham uma identidade, já tinha um discurso narrativo. Por exemplo, na trilogia de Falcó não escrevo para apoiar o franquismo, mas sim para contar uma história utilizando o franquismo durante a guerra civil, como cenário, como território narrativo. Não tenho intenção de aplaudir nada. É apenas material histórico para o meu trabalho. Há romancistas, hoje, em Espanha, que escrevem livros a pensar se são pró ou contra franquistas. Eu conto histórias, e passeio os meus leitores pela Paris dos anos 30, por Lisboa, pelo século XI ou pelo XVII…mas não pretende explicar nenhuma das épocas. Pretendo unicamente que vejam a história com a visão dessa época.