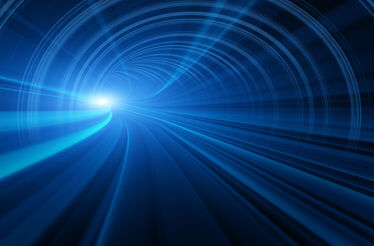Crónica de Natal: A liga dos originais e o difícil caminho do meio
A sociedade nunca lidou bem com a diferença, e ainda não se percebe se está melhor ou se está pior. Mas parece moralista, distraída, cansativa e a precisar de férias.

Mais um ano finda no caótico novo mundo pós-pandemia e paira no ar a grande dúvida: estamos a progredir como sociedade ou a regredir ligeiramente? As duas respostas devem estar certas, porque na imparável informação de hoje, cansativa como um buffet de casamento, é impossível ser atento, humano, cuidadoso. Mas, por outro lado, nunca as causas, mesmo que agora ameaçadas pelas cabeças cúbicas dos extremos políticos, deram saltos tão grandes. E algumas coisas nunca mais poderão vir a ser as mesmas. Mas sentimo-nos viver a duas velocidades: a do progresso e a que insiste em repetir os padrões milenares e chamar-lhes tradição, como um selo de qualidade. Há a tradição boa, muita dela estamos a destruí-la em nome do lucro fácil, basta olhar para Lisboa (só esta semana fecharam a drogaria e a mercearia do meu bairro e os meus dois restaurantes preferidos). Mas também há a tradição má, que já não faz qualquer sentido, principalmente a mais incrustada – a das mentalidades, onde grassam as ideias feitas, o preconceito, e todos os desníveis sociais do costume, do género à raça. Deve ser a tradição.
Ao mesmo tempo, dizia um rapaz de origem africana que conduzia um Uber que apanhei, há uns dias: “Já não se pode brincar com nada”. Ui, o que ele foi dizer, estamos sérios e chatos como nunca, o mundo está complicado e nós, extremados. Ele dizia, com imensa piada, que cresceu num Portugal onde toda a gente brincava com ele a chamar-lhe preto, porque eram poucos, e ele a chamar brancos aos outros todos, e era uma risota. Quem cresceu nos arredores de Lisboa sabe que era assim. Agora que somos muitos mais misturados, “tudo é ofensa e está a perder a piada, não se pode dizer nada”. Quase o abracei em compreensão.
O pior é que também já não nos podemos queixar ou refilar, e somos uma cultura queixinhas. Mas já não se pode estar triste, não temos direito. E não é só porque há guerra e fome no mundo, mas porque tens de estar sempre a fazer sala e divertido – como se fôssemos redes sociais e não seres humanos com sentimentos.
Se refilas ou te queixas de alguma coisa - olha, do meu bairro engolido pelos ricos dos outros países, sem amor pela cultura, pelos vizinhos, pelo prédio, para além do seu próprio umbigo, prazer. Dizem-te logo: “Não te deves chatear com isso, não tem solução”. O problema é esse mesmo, o de nunca nos chateamos com nada e, quando damos por isso, temos o país à venda. Já ouvi coisas tão tontas como “estás a recusar a modernidade”. Como se a modernidade fosse vender a alma ao negócio da gentrificação que maltrata os lisboetas como eu. Vender a alma é coisa de que nenhum jornalista gosta. Ou gostava. E é curioso não perceberem que o progresso é precisamente o que move um jornalista de artes e moda, de tendências e causas. Mais valia dizerem: “Não te quero ouvir. Só se for na alegria e na abundância e de preferência aproveitando-as bem”.
São cada vez menos as pessoas com quem se pode conversar honesta e profundamente. Estamos cada vez mais artificiais e egoístas, como os países modernos. Por isso, o melhor é ficar quieto e calado, sem levantar ondas como nos ensinou o tio Salazar e a tia Igreja, ainda mais às mulheres – somos especialistas em sonsice e manipulação à conta disso. Só que eu não tive a sorte de nascer assim consensual como a maioria.
Nunca houve tantas conferências, debates, talks, podcasts, chats, e vídeos e resumos e observadores de bancada a testemunhá-los. E a ganharem a vida a macaquearem em frente a uma câmara. Nunca houve tantas pessoas a opinar e outras tantas a contra opinar - o cronista até pondera a importância da sua voz na cacofonia dos dias cheios de estímulos e obrigações, numa corrida contra o tempo. Mas, na verdade, a sociedade continua a querer que sejas o que sempre foste: mais um no meio do rebanho. E, na verdade, também já todos percebemos que a sociedade ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar à canção de John Lennon, mas vai caminhando lentamente na sua direção. Nos raros momentos em que a humanidade repara nos seus originais, nos diferentes, nos radicais, nos livres - os únicos capazes de dar um grande salto sobre o rebanho, ver mais longe, quem sabe indicar um caminho – têm de já ter sido heróis abandonados na sua luta. Já vos aconteceu não encaixar em lado nenhum e essa originalidade ser um problema? E depois, afinal, até tinhas razão e são todos teus amigos? Alguém tem de sujar as mãos, desbravar o caminho com uma catana para toda a gente passar a seguir. A maioria é boa só para bater palmas.
Continuamos a desenhar círculos sobre nós próprios, à volta das questões de sempre e a desconfiar dos verdadeiros originais que são os que não têm medo. Quando tudo começa a mudar, as pessoas correm para a tradição, para o que sempre foi, é um reduto de segurança e um posto de observação, compreende-se. Mas se a tradição é linda, se a cultura de um país é a sua estrutura e originalidade, é no equilíbrio de um novo pensamento, e do diferente, que se fortalece a sua identidade, ou não? Acredito que é mais belo e estimulante ter várias origens e vários pontos de vista do que sermos os mesmos do costume a fazer as mesmas coisas do costume nos lugares do costume. Mas também acredito que a personalidade de um país é como o de uma pessoa: não devia ser discutível sequer.
O melhor conselho que eu poderia dar ao meu jovem ou ao filho que não terei é: não tentes encaixar e agradar o tempo inteiro, sê verdadeiro, ser livre, arrisca. A sociedade tende a cuspir nos seus originais para depois concluir que o colorido da vida provém da diferença. Se há uns séculos, ter uma opinião diferente dava fogueira, e as mulheres foram bruxas sempre que deu jeito, hoje a saída é viver essa verdade e essa liberdade aos sete ventos. E isso ser a coisa mais maravilhosa que nos aconteceu: sermos únicos. Não é o que perseguimos nas redes sociais? A vida não trata bem os diferentes nem os originais os que não vivem para agradar. Sempre adorei originais, por isso sou jornalista, porque quero entrevistá-los. Os talentosos são os originais.
Numa era de extremos e em que tudo é levado a peito, ser original é fazer perguntas diferentes à vida. De todos os ângulos. É hoje difícil debater temas de forma saudável, leve e solta. As pessoas passaram a defender causas às quais nunca ligaram nenhuma, e ainda bem, com um fervor que atropela o debate honesto e saudável, o que percorre todas as camadas e tonalidades de cinzento, se não fica-se pela rama do preto ou do branco, do bom ou do mau. Depois, vem o Natal falar de família em sentido lato, de fraternidade, porque gostávamos mesmo de ser melhores enquanto o valor do humano desaparece a olhos vistos. Cumprimentarmos os vizinhos ou os colegas, agradecer a quem nos segura a porta, responder às mensagens que nos enviam ou ouvir até ao fim já são bons pontos de partida. É o mínimo e não arranca pedaço.
O mundo é demasiado complexo para caber numa pequena crónica que é uma conversa de café. Cada vez sabemos menos para onde vamos e o que nos espera, mas são estes momentos de viragem civilizacional que se dão os grandes milagres. Depois, se andamos tão apaixonados pela longevidade, é bom relembrarmos que os otimistas duram mais anos, e vivem melhor rodeados. A liberdade é ver todas as cintilações e não dar nada como absoluto porque não sabemos rigorosamente nada a não ser isso mesmo: que não sabemos nada. E a humildade é o início melhor, de que apetece sempre falar quando um ano chega ao fim.

Os homens têm medo das mulheres solteiras
"A mulher solteira encontrou o seu lugar", escrevia a revista TIME em agosto de 2000, numa edição dedicada, em parte, à série "O Sexo e a Cidade". 25 depois, a profecia confirma-se. Há cada vez mais mulheres que não querem casar. Adoram as suas vidas. Sentem-se realizadas. Fazem planos a longo prazo. Mas nada disso passa por uma vida a dois. O seu estado civil é outro: bem resolvidas. São um perigo para a sociedade patriarcal.
O que um mau preenchimento labial nos pode ensinar sobre política
Depois da publicação de uma série de retratos pela Vanity Fair, até Trump aprendeu: na maquilhagem, como na vida, os detalhes falam mais do que as palavras.
Dia Internacional do Migrante: que espaço têm os imigrantes na indústria criativa portuguesa?
Portugal tornou-se casa para uma nova geração de talentos globais. Fotógrafos, stylists, designers e modelos refletem sobre carreira, pertença e o equilíbrio entre ambição e saudade.