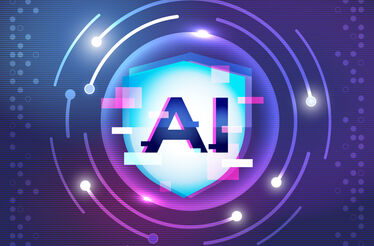Nazaré Pinela: "As pessoas não se sentavam ao meu lado no autocarro, benziam-se."
É uma das primeiras body piercers do país, precursora do vintage, fã de tatuagens. Diz que tudo isto vem da música. Perguntámos-lhe pelas histórias da sua vida e como foi fazer tanta coisa que Lisboa nunca tinha visto.

Coberta das tatuagens de que é fã, com o seu estilo exuberante que não é deste tempo. É assim que o mundo conhece Nazaré Pinela, 61 anos, desde que participou no projeto internacional de fotografia de Ari Seth Cohen, Advanced Love. Apareceu com o marido, Eduardo Pinela, por causa da sua longa relação. No entanto, Nazaré Pinela tem vida além da sua estética. Fez parte do renascimento do rock português com a banda Capitão Fantasma, ajudou a trazer o mercado do vintage para Lisboa e foi uma das primeiras body piercers portuguesas.
Tudo isto aconteceu a partir de 1987, já Nazaré tinha vivido em Londres, e estudado fotografia na António Arroio. Depois de muitas voltas, tem, desde 2000, a Bang Bang Tattoo, em Sintra, com Eduardo Pinela. Ela faz piercings, ele tatua. Foi sobre tudo o que viveu antes que conversámos – e, claro, sobre estilo.
Como começou a sua relação com as tatuagens?
Em 1983, quando fui viver para Londres, com 18 anos, das primeiras coisas que fiz foi uma tatuagem.
O que tatuou?
Aquelas máscaras do teatro a rir e a chorar. Não sei bem porquê... Acho que tem algo de todos nós: o lado triste e o lado contente. Mas estava muito mal feita.
Lembra-se da reação da sua mãe?
Ficou muito triste. Ela foi visitar-me a Londres e eu fiz questão de ir logo de mangas cavas para ela ver. Não sabia como lhe apresentar isto pela primeira vez. Foi sempre assim, quanto mais ia fazendo, mais triste ela ficava. Até a minha mãe morrer, sempre que me tatuava, sentia o coração um bocadinho apertado. As pessoas daquela época ligavam isto a criminalidade, a ex-combatentes, a marinheiros. Não havia ninguém em Portugal com tatuagens sem serem essas pessoas.
Com essas referências, de onde veio essa vontade em si?
Não sei. Faço-me essa pergunta várias vezes. Se calhar era de ver os discursos dos senhores a desejar as boas festas no Ultramar. Todos eles tinham tatuagens, se calhar apaixonei-me por um deles, mas muito inconscientemente.
E como se tornou body piercer?
Quando voltei de Londres, no estúdio onde fiz outras tatuagens havia necessidade de se fazer body piercing. Ninguém fazia e eu tinha bastantes – nas orelhas todas até cá acima.
Tinha feito em Londres?
Cá também, mas tudo à pistola, nas ourivesarias ou em casa – fazíamos uns aos outros, com gelo e agulha. Se corresse mal, fazia-se outra vez. Não tinha a importância que tem hoje. Surgiu essa proposta e eu aceitei. Tocava na banda e já tinha um filho. Precisava de trabalhar, a banda não era suficiente.

Quem é que queria piercings?
Eram subculturas, artistas, pessoas excêntricas, muito interessantes, quase todas. Não eram crianças. Tinham pelo menos mais de 30 anos.
E que piercings é que se faziam?
Orelhas, umbigos, mas também muitos genitais. Para muitas pessoas que não podiam ter piercings expostos, era uma opção. Nos anos 90, houve um boom de casas de bailarinas em Lisboa com muitas raparigas de fora, países do Leste. Às vezes, vinham às carradas para pôr um brilhante.
Quando é que começou a ser conhecida pelo seu estilo?
Ao voltar de Londres, não havia nenhuma rapariga com o meu estilo, principalmente o meu cabelo gigante. Isso causava até fricção.
Que comentários ouvia?
Travei uma batalha, mas não foi só desde aí, sempre fui uma pessoa bastante diferente. Nunca achei que vestir bege seria a minha função. As pessoas não se sentavam ao meu lado no autocarro, benziam-se. Sofri várias agressões físicas.
Por causa das tatuagens?
Era toda uma postura, uma maneira de estar, o medo que as pessoas ainda têm da diferença. O meu visual assemelhava-se muito ao das prostitutas, o que não me chateava nada: usava saias curtas, saltos altos, era espampanante, muita maquilhagem. Ouvia que era ordinária, “estás a pedi-las”, esse género de coisas.
As pessoas queriam agredir essa ideia de mulher.
De mulher livre – era o que eu era e o que sou. Agora estamos a retroceder um bocado nisso. Mas sempre lidei bem. Havia dias mais difíceis, outros em que me estava nas tintas. Fez de mim a mulher que sou.
Via isso como um preço a pagar por ser diferente?
Não, nunca achei que devia pagar nada. As outras pessoas é que estavam descontentes com as suas vidas.
Quando é que a começaram a achar diferente?
Aos 15 ou 16 anos.
E foi para Londres por causa disso?
Foi muito por causa disso. Foi fantástico descobrir que havia sítios onde ninguém me ligava nenhuma.

O que fazia lá?
Tratava de crianças. Era para ser três meses, mas a coisa correu mesmo bem. Gostava muito de lá estar. Propus-me a exame para vir com um diploma de Inglês, para agradar à minha mãe. Além disso, pelo menos duas ou três vezes por semana, saía para ouvir música, ia a concertos ao vivo, não perdia banda nenhuma.
Ficou porque gostava de lá estar ou não queria voltar para Lisboa?
A ideia de Lisboa deturpa-se quando estamos fora. Tinha muitas saudades... do mar, do tempo, do calor, dos amigos a sério. Mas cá o entusiasmo durava uns dez dias e estava já desesperada para me ir embora.
Como era Lisboa nessa altura?
Fantástica, uma aldeia.
No sentido em que conhecia toda a gente?
Sim, tenho saudades disso. Chegava-se e não era preciso marcar, sabia que ia àquele café e via lá pessoas que conhecia. Mas depois também era um marasmo e foi uma altura muito pesada a nível de drogas.
O marasmo sentia-se em quê?
Não havia concertos, filmes fixes... Os museus eram muito aborrecidos. Em Londres, eu consumia muita cultura. Vi tudo o que era museus, tudo gratuito, as coisas eram acessíveis e bonitas. Ia sempre à descoberta, fui a sítios inimagináveis, era excitante.
No regresso a Lisboa, juntou-se aos rockabillies?
Sim... ou eles juntaram-se a mim [risos]. O Pinela [Eduardo, o marido] e o Jorge [Bruto] tinham os Emídio e a Tribo do Rum. Conhecíamo-nos desde a António Arroio e comecei a fazer vocals com eles. A banda acabou e queriam começar outra. Numa conversa no Bairro Alto, disseram: “É pena não tocares, mas começas amanhã.” Assim começaram os Capitão Fantasma. O Pinela passou a tocar guitarra e ensinou-me a tocar baixo.
Haver uma mulher na banda era esquisito?
Eu era um deles, era só mais bem tratada. Era fixe. Não sei se tocaria numa banda só de miúdas, porque sempre me dei melhor com homens.
E da parte do público quais eram as reações?
Ouvia bocas muito foleiras e desagradáveis durante os concertos.

Ficava mazelada com isso?
Não. Na realidade, estava numa posição de poder, olhava de alto. Na rua, é mais complicado.
O que é que os Capitão Fantasma deram à música portuguesa?
Foi a primeira banda de rock’n’roll. Influenciámos o aparecimento de muitas outras e o início do rockabilly em Portugal, que estava moribundo desde os anos 60.
Tinham inspirações portuguesas dessa época?
Não. As nossas inspirações sempre foram inglesas e americanas. Mesmo na roupa... a minha mãe não entendia: vestíamos roupas de anos 50 e ela dizia que não eram anos 50 – cá, nessa altura, era tudo preto. O nosso imaginário era o americano dos filmes.
Entra aqui o seu gosto pelo rétro.
Tem 100% que ver com a música. Era o fio condutor do nosso estilo de vida. Sempre me vesti de uma maneira antiga. Mudei-me com a minha mãe para a Mouraria [em Lisboa] aos 16 anos e só me vestia na Feira da Ladra – roupas muito pretas, eram só peças portuguesas.
Nessa altura, o vintage ainda não existia em Lisboa.
Começou depois. O meu primeiro trabalho ao voltar de Londres, em 1987, foi abrir com a Fernandinha a primeira loja do vintage a sério, o El Dorado. Eu e ela viajámos muito pela Europa para comprar o melhor vintage dos anos 40, 50 e 60. Eram peças escolhidas. Trazíamos sacos e sacos.
A loja teve impacto?
Muito. Vestíamos artistas, bandas e era um ponto de encontro. Fomos a única loja vintage durante bastante tempo.
O estilo continua a ser a razão por que é reconhecida. Talvez mais do que a Bang Bang. A forma como se veste é importante?
É uma afirmação artística. Estes sapatos que eu uso [os icónicos Tabi, originários do Japão]: ninguém do rock’n’roll dos anos 50 usava. Nunca quis ser purista. Sou um exagero e gosto muito de ser um exagero. Nunca sei o que vou vestir amanhã, depende de como acordo, porque é uma forma de expressão.
E a preguiça de não ser diferente: tem que ver com isso?
Às vezes, as coisas que uso não são muito confortáveis: colares que pesam quilos, ao fim do dia tenho dores nas costas; sapatos altos, um esforço para andar; vestidos “apertadérrimos”, mal posso comer. Mas quero mesmo usar, tenho gosto em me apresentar assim. Claro que quando acaba o evento, começo logo a desmontar-me no Uber.
Depois da música, é outra forma de palco.
A rua é um palco.

Astrologia 2026: o ano decisivo para os signos cardinais e de fogo
Se é Caranguejo, Carneiro ou Leão, 2026 não vai passar em branco
Afinal, os cães sentem frio? E precisam mesmo de ser vestidos?
Nem todos os cães precisam de roupa, mas para alguns, vestir-se pode ser essencial para enfrentar o frio. Descubra como escolher o vestuário certo e cuidar do bem-estar do seu companheiro.
Por que as resoluções de Ano Novo falham e como escrever novas (comece por eliminar duas palavras)
Spoiler alert: não é sobre força de vontade. É ciência.
“Aos 16 anos, convenci-me de que a única coisa que importava era o quanto era sexy.”
A Máxima falou com Sophie Gilbert, autora do livro "Girl on Girl", sobre a forma como a cultura pop dos anos 90 e 00 enfraqueceu a terceira onda do feminismo. Uma reavaliação necessária de uma época particularmente sexista e misógina.