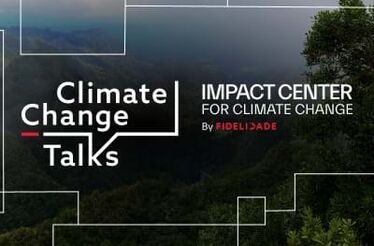Damas de ferro, maridos de aço
Ficaram na História como exemplos de coragem e talento, mas todas admitiram que sozinhas não o teriam conseguido. A seu lado, todas estas mulheres de têmpera tiveram companheiros do mesmo quilate, que venceram preconceitos e não temeram desempenhar um papel que a sociedade considerava secundário.
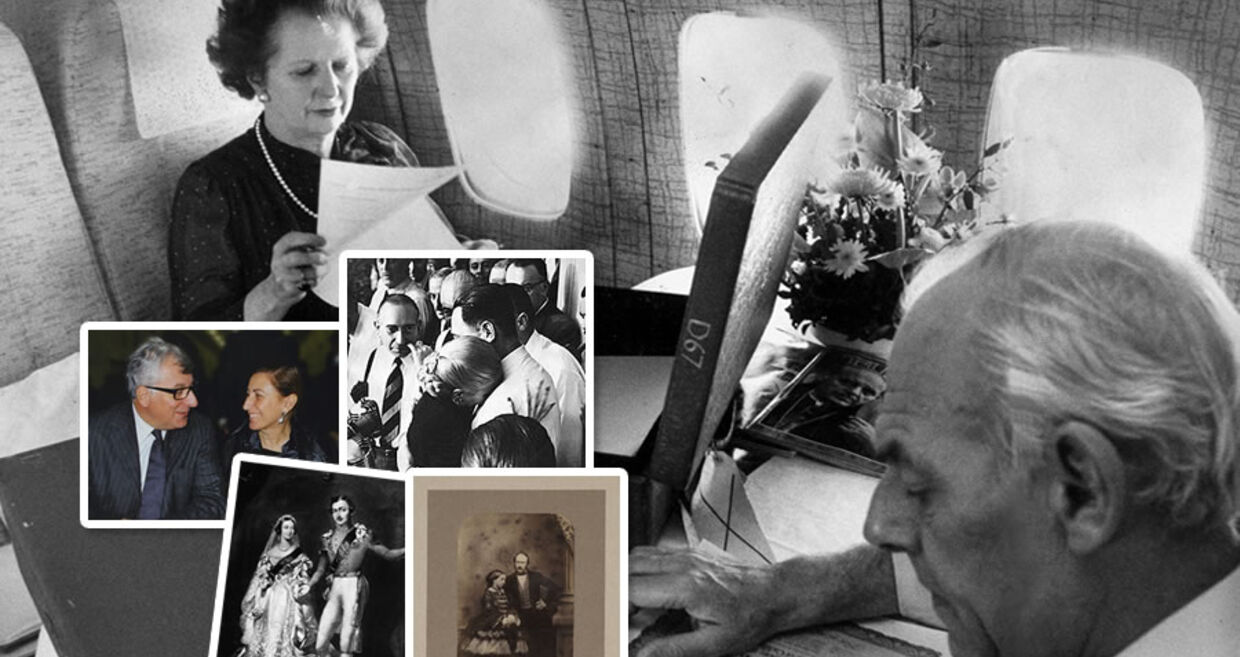
Fracos. Negligentes. Oportunistas com baixo teor de masculinidade. Assim viu (e em parte, ainda vê) a sociedade ocidental, tão autossatisfeita com os seus alegados progressos, os constantes companheiros de mulheres que se destacaram na vida pública, quer pelo talento artístico, quer por feitos políticos e empresariais. E, no entanto, indaga-se um pouco mais sobre as vidas desses casais e compreende-se que nada podia estar mais longe da verdade do que essa imagem contaminada pelo preconceito e até pela inveja. Sem o apoio leal e amoroso destes homens suficientemente seguros de si para enfrentar a ditadura dos costumes, não teriam as suas esposas ido tão longe na missão a que chamaram sua.
CONSORTES DE EXCEÇÃO
Comecemos por “casa”, melhor dizendo, pela História de Portugal. O reinado de Dona Maria II teria sido o mesmo sem o seu consorte, o príncipe alemão que se transformou no Rei Consorte, D. Fernando II? Em 1836, a política juntou-os mas, em breve, a intimidade mútua e o amor a Portugal aprofundou o casamento. Rainha aos sete anos (depois do seu heroico pai, D. Pedro IV, ter abdicado da Coroa em favor dela), D. Maria II, tão redonda como a bolacha do mesmo nome, teve em D. Fernando de Saxe-Coburgo, com quem casou muito jovem, o apoio sólido de que necessitou para governar o reino nos anos muito duros de consolidação da monarquia constitucional.
'A nossa união tornou-nos indispensáveis um ao outro' D. FernandoAo chegar a Portugal, D. Fernando era um jovem inexperiente que desconhecia a língua portuguesa e suscitava a desconfiança dos seus novos cortesãos. A beleza e graça que envolviam numa aura de Romantismo o príncipe alemão seduziam tanto a sua mulher como estimulavam a má-língua dos demais. Mas as atribulações do reinado forçaram-no a uma aprendizagem rápida dos caprichos da Política à portuguesa e, com o passar dos anos, acabou por assumir um papel político pelo menos tão importante como o da Rainha. Esse era, aliás, o desejo desta: “Enquanto estiver neste miserável mundo – escrevia –, a sua posição será tão boa como a minha possa ser. Nunca permitirei a quem quer que seja que estabeleça uma diferença no que quer que seja entre ele e mim e exijo que lhe obedeçam tanto a ele como se deve obedecer a mim.”
A Cultura teve, desde cedo, um forte apoio no real consorte. Salvou o Mosteiro da Batalha do permanente vandalismo e conseguiu que, no orçamento das obras públicas, se destinassem algumas verbas para a sua reparação e manutenção. D. Fernando era um mecenas e um diletante esforçado, e bem mereceu o cognome de Rei-Artista, posto por António Feliciano de Castilho. Nomeou Alexandre Herculano seu bibliotecário particular, o que foi determinante para que o escritor tivesse condições para escrever a sua História de Portugal. À paixão que D. Fernando e Dona Maria devotavam à paisagem de Sintra ficou a dever-se a construção do Palácio da Pena. Pode dizer-se, com justiça, que os últimos Braganças (D. Pedro V, D. Luís, D. Carlos e D. Manuel II) foram salvos da mediocridade pela herança cultural deixada por este antepassado que amou Portugal como se fosse pátria sua.
Embora a intriga política, que dominou a sua época, repugnasse a D. Fernando, em vários momentos este foi forçado a atuar mesmo do ponto de vista militar, nomeadamente em 1851, quando liderou as tropas da rainha contra os insurretos seguidores do Duque de Saldanha. Na menoridade do seu primogénito, o Rei D. Pedro V, foi ainda um regente equilibrado que se bateu pela defesa das liberdades constitucionais e pelo progresso técnico e social do país.
Depois da morte prematura da Rainha, em 1853 (com apenas 34 anos, vítima de parto), D. Fernando recordaria com saudade aguda “aquela que foi a felicidade da minha vida”. Em carta endereçada à sua prima e confidente, a Rainha Vitória de Inglaterra, D. Fernando escreveria: “Chegado a Portugal há 18 anos, muito novo e sem nenhuma experiência, a nossa união, a princípio tímida, como era próprio das crianças que nós éramos, tornou-se cada dia mais sincera e mais íntima e acabou por nos tornar indispensáveis um ao outro. É que não sabe, minha querida Vitória, até que ponto nós estávamos ligados. Quando estes grandes afetos são quebrados, deixam atrás de si um vazio horrível e uma dor difícil de curar.”
Melhor do que ninguém, a poderosa soberana podia avaliar os sentimentos do primo. Também ela tinha em Alberto de Saxe-Coburgo um apoio fundamental e um marido apaixonado, cuja morte precoce, aos 42 anos, a prostraria em estado de desesperado luto durante os 40 anos em que lhe sobreviveu. No entanto, nem tudo foi fácil nos primeiros anos de casamento. Vitória era uma jovem autoritária, que não abdicava facilmente de um só centímetro das suas prerrogativas e mesmo dos seus deveres. Alberto era o marido adorado, o pai da princesa real, Vicky, mas foi durante muito tempo mantido à parte dos assuntos do reino, até porque sendo de origem alemã (tal como D. Fernando, aliás) não era propriamente popular entre os seus britânicos súbditos. Contudo, graças a uma notável persistência, o príncipe estaria, em breve, em situação de intervir na política do Estado, o que faria com o tato que faltava frequentemente a sua mulher. Graças a ele, o duque de Wellington aceitaria ser padrinho da pequena Vicky, rejubilando a Inglaterra com essa reconciliação da Rainha com o idolatrado herói das guerras napoleónicas. Foi só o princípio.
No decurso da segunda gravidez de Vitória (de que nasceria o Príncipe de Gales, o futuro Eduardo VII), Alberto foi nomeado regente para o caso da rainha não sobreviver ao parto (um cenário plausível dadas as condições médico-sanitárias da Obstetrícia nessa época pré-antibióticos) para gáudio da opinião pública. Alberto soube corresponder, tornando-se um dos alicerces do progresso da Grã-Bretanha Imperial e Industrial nos anos em que viveu: foi um dos mentores da modernização dos currículos da Universidade de Cambridge e o principal responsável pela Grande Exposição de Londres, em 1851. Os céticos, muito ativos na imprensa, chamavam-lhe sarcasticamente “Albertpólis” mas o acontecimento haveria de se tornar um enorme sucesso e um dos momentos altos da época vitoriana. Com a sua morte, ocorrida a 14 de dezembro de 1861, a Rainha perdeu o mais devotado dos conselheiros.
MAIS>
AMOR E ARTE
Nas palavras com que decidiu despedir-se do mundo, a escritora britânica Virginia Woolf reconheceu o papel que o marido, Leonard, desempenhara quer na consolidação da sua obra literária, quer no alívio dos seus males, causados, em grande parte, por um distúrbio mental próximo da bipolaridade: “Ofereceste-me a maior felicidade possível. Foste para mim tudo o que se pode ser para alguém. Não acredito que duas pessoas possam ter sido mais felizes – até ao aparecimento da terrível doença. Sei que arruinei a tua vida e sem mim poderias ter trabalhado. E sei que o farás.”
'Nunca poderia ter feito o que fiz sem Dennis ao meu lado' Margaret ThatcherHavia muita lucidez nesta espécie de ato de contrição da escritora em sofrimento. Ambos membros do chamado grupo de Bloomsbury, que revolucionou a Literatura europeia nas décadas de 1910 e 1920, casaram, em Londres, a 10 de agosto de 1912. Mas não foram felizes para sempre. Culto e trabalhador incansável, Leonard Woolf fundou a editora Hogart Press em boa parte para publicar os livros da mulher, de que era simultaneamente o revisor e crítico mais fiel e exigente. Ao mesmo tempo, tinha de lidar com as dificuldades sexuais dela (os biógrafos de Virginia são unânimes em reconhecer que esta sofria de muitos bloqueios nessa área) e com as suas crises mentais. Dedicou-se-lhes a tempo inteiro. Como vemos no filme As Horas, procurou convencer a doente a seguir uma trajetória de vida calma. Organizou um plano de comportamento, que regulamentava o quotidiano dela, desde as horas de repouso ao regime alimentar. Persuadiu-a, durante algumas temporadas, a entregar-se ao sossego do british countryside, mas tudo nela clamava pela agitação de Londres. Como a sua Mrs. Dalloway. Esta atormentada vida de casal acabou a 28 de março de 1941, quando, determinada a pôr fim aos seus dias, Virginia mergulhou no rio Ouse com os bolsos cheios de pedras.
Bem mais feliz foi a dupla de pintores formada pela portuguesa Maria Helena Vieira da Silva e pelo húngaro Arpad Szenes. Conheceram-se em 1928, na Académie de la Grand Chaumière, em Paris. Arpad reparou na portuguesa mal ela chegou, lê-se na fotobiografia Au fil du temps, publicada pelo museu que reúne parte do espólio dos dois artistas em Lisboa. Quando, pouco depois, Arpad foi obrigado a regressar à Hungria, ficaram separados um ano. Casaram-se em 1930 e foram viver para a Villa des Camélias, onde tinham outros artistas por vizinhos e as tertúlias se prolongavam ao longo da noite nessa Paris que vivia em festa os últimos anos da paz na Europa. Trabalhavam quase sempre juntos e amavam-se também pelas suas diferenças. Como nota Agustina Bessa-Luís no livro que consagrou à pintora, Longos Dias Têm Cem Anos, “Arpad é mais vulnerável: ama a vida, teme a morte, gira em torno dos pretextos, as suas seduções”. Vieira “pode ser muito rude ou muito terna e isso não depende das situações criadas”.
Juntos (e em breves períodos, separados), viverão no Rio de Janeiro, em Lisboa e em Paris. Serão declarados apátridas pela Hungria e pelo Portugal de Salazar. Na larga correspondência que trocaram, Vieira confidencia a força que ele lhe transmite e que lhe falta de forma dramática quando estão afastados: “Estou triste sem ti, que me dás coragem e esperança.” Ela chama-lhe Drága e ele trata-a por Bicho. Afastar-se-iam só em 1985, quando Arpad morreu na casa de ambos, em Paris. Vieira segui-lo-ia sete anos depois. O amor de ambos está eternizado no museu com os nomes de ambos, situado no Largo das Amoreiras.
OS MEUS, OS TEUS E OS NOSSOS INTERESSES
Aprecie-se ou não a atuação política de Margaret Thatcher, há um momento tocante no filme que lhe foi consagrado em 2011: aquele em que, movida pela paixão da política, a jovem militante do Partido Conservador pede ao marido que não a deixe morrer enquanto lava uma chávena de chá. Horrorizava-a acabar, mergulhada numa vida inócua e sem sentido, que era, afinal, o destino comum a tantos milhões de mulheres, independentemente da classe social a que pertencessem.
Em Dennis, a rapariga ambiciosa encontrou parceiro à altura. Conheceram-se em 1949 e o casamento dos dois não agradou a nenhuma das famílias: à dele, rica, porque acolhia uma rapariga vinda do proletariado, à dela, porque Dennis era divorciado e tinha reputação de bon vivant. No entanto, o que parecia destinado ao fracasso durou uma vida. Aceitando de bom grado uma conjugalidade pouco ortodoxa, Dennis foi o pai presente de dois filhos que, em épocas de agitação eleitoral, só recebiam da mãe uma saudação telefónica. Acreditava no papel da mulher na História do Reino Unido e partilhava das suas convicções anti-socialistas e anti-sindicalistas, embora se mostrasse menos radical do que ela no que tocava à reintrodução da pena de morte no país.
O esforço de ambos foi coroado de êxito quando, em 1979, Margaret se tornou a primeira mulher a assumir a chefia do governo num país ocidental e a primeira mulher casada a fazê-lo em todo o mundo! O caso colocou alguns problemas protocolares que a imprensa satírica glosou até à exaustão, mas Dennis não deu parte fraca mesmo se tivesse de ser fotografado entre hordas de primeiras-damas estrangeiras. Embora os detratores de Margaret (a quem publicamente ele chamava, com grande fleuma, “The Boss”) o caricaturizassem como um oportunista reacionário, amante do golfe e do gin, Dennis esteve ao lado da mulher nos momentos mais duros dos 11 anos em que ela esteve no poder, nomeadamente durante a Guerra das Malvinas (contra a Argentina) e dos braços-de-ferro com os sindicatos. Criticava asperamente as campanhas de imprensa movidas contra a mulher e soube sempre resistir à tentação de contar como era a vida conjugal em Downing Street, 10. Morreu em 2003, deixando uma viúva triste e grata. Mrs. Thatcher diria então: “Nunca poderia ter feito o que fiz sem Dennis a meu lado.”
Educado numa cultura que encara a mulher como uma deusa menor produtora de spaghetti, Patrizio Bertelli é um dos grandes CEO da atual indústria da moda. Mas não deixa de ser o génio da gestão “atrás” de Miuccia Prada, a criadora mais influente da atualidade. Formando ambos um casal desde os anos 70, essa relação de aparente subalternidade nem sempre foi de fácil governança. Até porque Bertelli, como frisa Miuccia, ferve em pouca água, como provou quando, nas vésperas da inauguração da Miu Miu de Nova Iorque, destruiu a decoração com as suas próprias mãos porque os espelhos não favoreciam os clientes.
Os dois conheceram-se em 1978 e fizeram de uma mescla bem-sucedida de sentido empresarial e muita criatividade a fórmula para dar novo fôlego à ambiciosa marca dos fratelli Prada, que estava um pouco decadente quando Miuccia a herdou da mãe. Sob a liderança do casal, a Prada abria uma segunda loja, em Milão, na Via della Spiga, em 1983. O desejo de modernização estava bem expresso aos olhos do visitante, quer através da arquitetura de interiores (com uma identidade bem diversa da primeira loja, bem mais tradicional, nas Galerias Vittorio Emanuele), quer da inclusão, no catálogo, de toda uma gama de acessórios complementares das malas de mão e bagagem para viagens de luxo, nomeadamente através dos sapatos para homem e mulher. A partir de 1986 abriram lojas em Nova Iorque e Madrid, seguidas por Londres, Paris e Tóquio.
Em 1992, estimulada pelo indesmentível sucesso, Miuccia criava uma nova marca – a Miu Miu – destinada a um público mais jovem do que o que habitualmente visitava a casa-mãe. Por sua vez, Patrizio Bertelli encetava uma arrojada política empresarial, que passou pela aquisição de marcas como a Helmut Lang, Church Shoes, Jill Sander e Fendi (esta última posteriormente vendida à LVHM, consórcio proprietário da Dior, Givenchy e outras casas de moda), depois de desentendimentos vários com os principais designers da marca. Hoje, apesar das nuvens negras pairando sobre a Europa, a Prada continua a movimentar um volume de negócios na ordem dos 2 biliões de libras por ano e a despertar os sonhos consumistas de milhões de cidadãos do mundo. “As nossas brainstorms parecem-se frequentemente com uma guerra”, assumiu frequentemente Miuccia perante a imprensa. Mas saradas as feridas, a firma prossegue em velocidade de cruzeiro. E ninguém duvida que Bertelli e Miuccia se equivalem no engenho e na força.